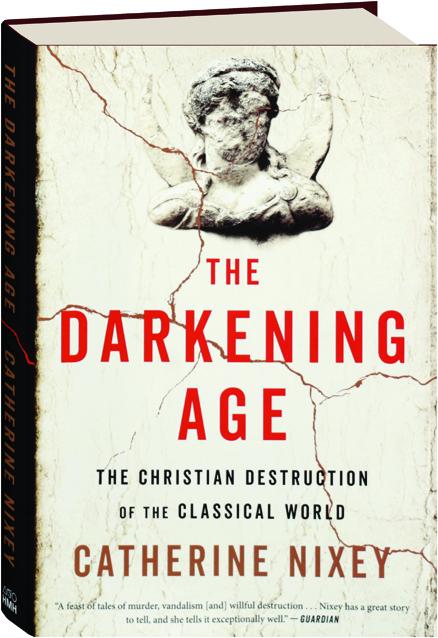Quando a Culturama, uma editora pequena do Rio Grande do Sul, anunciou que tinha conquistado os direitos de publicação das revistas Disney no Brasil após a derrocada da Abril, recebi a notícia com um pé atrás: independente de qualquer coisa, duvidei que ela conseguisse distribuir as revistas em algum nível minimamente comparável ao que a Abril tinha alcançado.
É claro que não faço ideia das razões que fizeram a Disney escolher uma editora pequena do extremo sul de um país continental para editar e distribuir suas revistas. Eu não entendo do mercado editorial e não sei como funcionam suas razões. Mas não precisava ser Sir Lock Holmes para ver que isso tinha tudo para não dar certo. Achava difícil que a Culturama conseguisse colocar suas revistas no Amapá, por exemplo, ao menos de maneira regular. Essa era a grande diferença: durante quase setenta anos, sempre houve uma revista Disney nas bancas de todo o Brasil. Isso não aconteceu nem nos Estados Unidos, e era em grande parte mérito da impressionante sistema de distribuição da editora dos Civita. Eu duvidava que a Culturama fosse capaz de conseguir algo remotamente parecido.
Mas foi pior que isso. As novas revistas foram lançadas com algum estardalhaço, ao menos nas redes sociais, em março. Desde então, procurei por elas em quatro estados: Sergipe, Bahia, Pará e Ceará. Em nenhum deles consegui achá-las; nem nas bancas, nem em lugar algum. Finalmente achei as número zero na Bienal do Livro em Fortaleza, em agosto, cinco meses depois de terem sido lançadas. Basicamente, eram encalhe em busca de uma segunda chance. Agora, em outubro, achei algumas revistas em Aracaju, números que aparentemente foram lançados há alguns meses. No site dizem que estão distribuindo as revistas em todo o Brasil. É uma meia mentira. A Culturama parece ser incapaz de ao menos estabelecer uma estrutura de distribuição sistematizada, distribuindo suas tiragens e datas de lançamento de modo a minimizar o encalhe, coisa que a Abril fazia desde sempre com algumas publicações.
Agora que li as revistas, posso dar uma opinião sobre os quadrinhos Disney nestes tempos pós-Abril. É preciso lembrar que li essas revistas em seu auge e acompanhei o início de sua decadência, e é esse padrão, defasado por décadas de ignorância quanto à sua evolução, que ainda hoje define para mim o que deve ser uma revistinha Disney.
São cinco novos títulos: Pato Donald, Tio Patinhas, Mickey, Pateta e Aventuras Disney. São todas muito parecidas: 64 páginas, papel offset. A impressão é excelente, mas para mim o papel é estranho. É culpa minha: para mim, que tenho lembranças demais, lembram as revistas da EBAL, de que não gostava muito. As capas são de uma mediocridade assombrosa, como já eram na Abril nos últimos anos. Vão longe os tempos em que, com exceção da Almanaque Disney, cada capa trazia uma gag visual, sendo quase uma outra historinha. Para piorar, uniformizaram os logos, tirando das revistas a identidade própria que carregaram em seus tempos áureos no Brasil.
A uniformidade mediocrizante não se restringe ao logo, no entanto. A Abril buscava ocupar faixas diferentes de mercado. Das mais baratas, como a Pato Donald e a Zé Carioca, às mais caras, como as Disney Especial, havia sempre uma revista para cada bolso, o que provavelmente ampliava sua penetração de mercado. Mas as revistas da Culturama, independente do título que carregam no alto de suas capas, parecem ser a mesma revista, apenas com personagens diferentes. Pelo visto, só existe um tipo de leitor padrão para elas — e imagino que sejam velhos caquéticos semi-esclerosados, saudosos de outros tempos. Gente como eu.
A falta de variedade é outra deficiência. Cada revista traz apenas os personagens que lhes dão título, com exceção da Aventuras Disney, que parece tentar ocupar mais ou menos o lugar da antiga Almanaque Disney, embora seja muito mais pobre que o original: é só uma coletânea com os mesmos personagens das outras revistas. Infelizmente, ainda lembro que uma revista Disney, em outros tempos, tinha um universo absurdamente diversificado: além dos Donalds e Mickeys da vida, traziam também personagens variados como Quincas, Bambi, Havita, Banzé e personagens originados nos longas da Disney — além de quadrinizações dos filmes que ela lançava —, e tornavam a experiência de leitura algo muito mais rico do que é hoje.
As histórias publicadas agora vêm da Dinamarca e da Itália. Desde sempre eu não gosto das histórias italianas, cujo histrionismo e exagero gráfico mais parecem uma caricatura do italiano médio. Para mim elas nunca tiveram a universalidade simples e cosmopolita das histórias de Carl Barks, nem a sofisticação narrativa de Don Rosa, e sempre achei que elas foram um dos ingredientes da decadência da Disney no Brasil. Ninguém com bom gosto podia gostar daquilo.
Mesmo assim as histórias apresentadas me surpreenderam. Talvez por estar esperando uma tragédia total, medo que se aliava ao absoluto desconhecimento do que se andou fazendo nos últimos tempos, o que vi me deixou satisfeito. Há boas histórias sendo produzidas mundo afora, mesmo na bota. E a edição da Culturama é boa, cuidadosa, embora se note uma falta de criatividade impressionante — basta lembrar dos nomes dos personagens de décadas atrás, sempre com trocadilhos que faziam a delícia das crianças e que agora estão ausentes. O único grande defeito que consegui ver foi o fato de as histórias estarem longas demais agora. Nos tempos áureos da Disney no Brasil, mesmo a Pato Donald e a Zé Carioca traziam um número grande de histórias em cada edição, sempre variadas. Essa variedade não existe mais.
A maior deficiência nesse relançamento da Disney, no entanto, ainda maior que a distribuição abaixo do medíocre, não é exatamente culpa da Culturama.
Uma das melhores coisas da Disney no Brasil, principalmente a partir dos anos 70, eram as histórias produzidas no Brasil, especialmente as do Zé Carioca. Elas tinham um elemento que falta a todas essas novas revistas: uma brasilidade que tornava as histórias mais atraentes, mais próximas do leitor por lidarem com os mesmos padrões culturais. Se a Turma da Mônica continua firme e forte não é apenas porque tem uma estrutura de distribuição muito superior; é porque suas histórias são criadas por brasileiros, respeitando as características culturais do país. São como sempre foram, imensamente inferiores ao que a Disney publicou de melhor no país, como as histórias de Carl Barks e as do Zé Carioca. (Na verdade são inferiores mesmo ao que Maurício de Souza fazia no final dos anos 70.) Mas são mais adequadas, sentem melhor o pulso dos seus leitores. O material exclusivamente global que a Culturama disponibiliza se ressente da ausência desses pontos de identificação.
Sei que não podem publicar histórias do Zé Carioca porque as antigas pertencem também à Abril, e já há décadas não se produz mais histórias dos personagens Disney no Brasil. Mas o fato de saber não torna as revistas da Culturama melhores.
O grande problema é que, no longo prazo, nada disso importa.
Ler essas revistas me deixou, acima de tudo, com uma certeza: os quadrinhos Disney não têm futuro no país. Não estou rogando praga, eu que também lamentei o fim das revistas na Abril. Mas a única maneira deles terem alguma esperança seria a retomada da produção de quadrinhos brasileiros, como a Abril fez durante os anos 70 e, principalmente, 80. E nada indica que isso vá acontecer. Na verdade, talvez nem isso fosse garantia de que elas tivessem alguma sobrevida.
No livro “O Homem Abril”, Gonçalo Júnior conta que Roberto Civita sabia exatamente em que momento as revistas em quadrinhos iniciaram a sua decadência no Brasil: o dia em que a Censura Federal liberou as revistas com nu feminino total no país. Naquele instante, os quadrinhos Disney perdiam os leitores adultos — caminhoneiros e quetais em uma população majoritariamente analfabeta ou semiletrada. O efeito foi imediato: a partir dali, as revistas que vendiam centenas de milhares de exemplares a cada edição — a Tio Patinhas chegou a vender mais de 500 mil todo mês — passaram a vender cada vez menos. Jamais voltariam a vender o que vendiam antes. Mas as consequências foram ainda piores que a simples queda nas vendas. Quando os adultos deixaram de ler essas revistas, elas perderam um espaço importante no imaginário das pessoas. Passaram a ser exclusivamente coisa de criança, e portanto menores.
Mas ali era só o começo. Causas mais importantes vieram depois. A internet é a maior delas, mas no Brasil até a violência urbana (que impede as crianças de irem sozinhas às bancas, como eu ia tanto) contribuiu para a decadência. No entanto, na minha opinião a razão mais grave é o simples passar do tempo, a mudança de sensibilidades. As crianças não querem mais ler essas historinhas, ponto final. O mundo que as cerca lhes oferece atrativos mais adequados, como desenhos, jogos, filmes. Revistinhas em quadrinhos pertencem a outros tempos, em que nem todos tinham TV com apenas dois ou quatro canais, em que as relações sociais se davam de maneira diferente e menos intermediada pela tecnologia. A queda da Abril não mudou nenhum desses fatores, e não será a Culturama que irá revertê-los.
Por isso não dá para levar muita fé no futuro desses quadrinhos. É até chato escrever um vaticínio desses porque imagino que para o pessoal que edita essas revistas este é principalmente um ato de amor, e o trabalho que realizam é bom. Há algo de heróico, embora talvez quixotesco, em sua tentativa de manter esse universo vivo, um universo que definiu o imaginário de pelo menos dez gerações de crianças.
Mas não adianta brigar com o tempo. As revistas em quadrinhos acabaram. Sua era está chegando ao fim, assim como as bancas de jornais em que eram vendidas. Eles fizeram a alegria de outras gerações, que envelheceram e trazem consigo as lembranças de sua própria juventude.
Uma das coisas que me impressionam hoje em dia é que tantos dos personagens com que cresci, quase todos, se tornaram anacrônicos, até ridículos. Como levar a sério o Mandrake, hoje? Um mágico de cartola? Como levar a sério uma Princesa Narda quarenta anos depois de Stephanie de Mônaco arrepiar o jet set europeu? Como respeitar a mera ideia de Lothar, o príncipe africano que, como bom neguinho, se permite ser o capacho de um mágico, por poderoso que ele seja?
Ainda pior é o fato de que esse anacronismo vai muito além do simples choque de realidade. É verdade que a minha ignorância permitia o nascimento da magia e de um mistério que só crianças podem criar, mas mesmo hoje o Fantasma, para mim, pode viver numa floresta equatorial tipo as do Congo. Eu sei que isso é teoricamente possível. Mas para a menininha que cresceu assistindo ao Discovery e ao National Geographic, a África deve ser um grande Serengeti, e algo como a Floresta Negra é absolutamente irreal para ela. Mais irreal que jedis derrubando impérios com seus sabres de luz.
São os novos tempos. Não dá para brigar com eles.