 O History Channel era uma das razões pelas quais assino TV. A outra, provavelmente, é o TCM. O resto — programas como o do Anthony Bourdain e os peitos da Nigella Lawson, um ou outro filme mais novinho, Charlie Sheen nas reprises de Two and a Half Men — é brinde que vem de graça.
O History Channel era uma das razões pelas quais assino TV. A outra, provavelmente, é o TCM. O resto — programas como o do Anthony Bourdain e os peitos da Nigella Lawson, um ou outro filme mais novinho, Charlie Sheen nas reprises de Two and a Half Men — é brinde que vem de graça.
Mas isso foi há algum tempo. Sobrou o TCM. Porque um canal que deveria se dedicar à história (e que já exibiu excelentes programas, como uma bela série sobre Roma) passou a me brindar com programas que ultrapassam com várias cabeças de vantagem a idiotice: “Alienígenas do Passado”, “MonsterQuest”, “Caçadores de OVNIs”.
Isso faz com que eu perca tempo me perguntando: por que será que em pleno século XXI, este em que deveríamos estar usando roupas prateadas e veraneando na Lua, ainda há gente que acredita em monstro do lago Ness? Por que qualquer luzinha estranha no céu é uma nave espacial? Por que toda hora que um cachorro sarnento e pelado aparece morto surge também um idiota para dizer que é o Chupa-Cabras? Por que alguém, em plena era de satélites cobrindo cada centímetro quadrado da Terra, acha que um bicho do tamanho do Abominável Homem das Neves poderia continuar existindo sem ser visto por quase ninguém?
Eu não sei as respostas para isso e duvido que alguém saiba — ou, pelo menos, que alguém possa responder a essas perguntas com um mínimo de civilidade e sem uns três palavrões bem ofensivos. De qualquer forma, essas coisas me incomodam, sim, mas não são o pior.
São os programas sobre ufologia que realmente me tiram do sério.
Não se trata de negar a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. É até improvável que ela não exista (embora Carl Sagan, em seu “Cosmos”, tenha calculado que vida inteligente pudesse existir em uns 10 planetas, se tanto; é um cálculo muito conservador, talvez, mas mais próximo da realidade que as federações intergalácticas dos filmes de ficção científica). O problema é outro: é acreditar que eles venham sistematicamente para cá, para este planetinha simpático, a despeito de todas as impossibilidades.
Imagine o tanto de trabalho e recursos necessários para mandar uma nave espacial através de um sem-número de dobras espaciais até esta bolinha azul. Por que alguém viria para cá, olharia escondido para nós como um voyeur excessivamente tímido e voltaria para o buraco de onde saiu é algo que me foge à compreensão. Mas eu tenho uma pista.
Sempre desconfiei que ufologia é basicamente uma espécie de deísmo atualizado para a era atômica — e é por isso que ETs sempre parecem com a gente, têm cabeça, tronco e membros. Assim como obrigamos Deus a nos criar à Sua semelhança, criamos ETs parecidos conosco; ultimamente Deus anda fora de moda, então arranja-se outra coisa inexplicável em que ter fé. Essas nossas criações, por definição, precisam ser maiores do que nós, algo que fuja à nossa compreensão e que tenha poderes mágicos — e quer mágica maior que andar por aí em velocidade superior à da luz, feito um neutrino despirocado?
 Essa não é a única semelhança entre ufologia e outros tipos de fé. Não importa, por exemplo, que visitas de extra-terrestres sejam uma implausibilidade física. É justamente nessas horas que a malucada apela para a fé, para a ignorância: “Claro que é possível a uns ETs com cara de fuinha viajar 300 milhões de anos-luz para nos saudar com um ‘Klaatu barada nikto’ nas fuças. É que eles têm tecnologia que a gente não conhece.” Ou para o fuxico puro e simples: “Não, eu nunca vi um ET, mas um primo do amigo de meu cunhado foi abduzido.”
Essa não é a única semelhança entre ufologia e outros tipos de fé. Não importa, por exemplo, que visitas de extra-terrestres sejam uma implausibilidade física. É justamente nessas horas que a malucada apela para a fé, para a ignorância: “Claro que é possível a uns ETs com cara de fuinha viajar 300 milhões de anos-luz para nos saudar com um ‘Klaatu barada nikto’ nas fuças. É que eles têm tecnologia que a gente não conhece.” Ou para o fuxico puro e simples: “Não, eu nunca vi um ET, mas um primo do amigo de meu cunhado foi abduzido.”
É exatamente como dizer que Deus existe porque existe, e fim de papo. É o tipo de argumento que, como qualquer teoria de conspiração, se baseia na ignorância.
A essência da fé mais burra e a da ufologia são as mesmas. É a idéia de que necessariamente existe algo acima da nossa capacidade de compreensão, algo no qual acreditamos apesar da falta de provas. Ou seja, Deus e ET são a mesma pessoa; a diferença é que antigamente Deus era mais batuta, mandava um povo inteiro andar quarenta anos no deserto para ver um terreno; hoje, no máximo telefona para lá. Por outro lado, antigamente jogava fogo, sal e enxofre em uns cusdemundo como Sodoma e Gomorra, coisa vagabunda com que um Deus que se respeite não deveria perder tempo; hoje, a gente vive sob a ameaça d’Ele invadir a Terra em astronaves gigantescas criadas em CGI e destruir o mundo inteiro.
E aqui está a pista para entender por que tanta gente acredita nessa estultície: porque isso nos dá a impressão de importância, remetendo a um tempo em que achávamos que éramos o centro do universo. Se não somos mais a criação predileta de Deus, vamos procurar alguém que nos valorize e respeite como merecemos.
Esse pessoal dos discos voadores só não parece perceber o quanto esse tipo de bobagem, e especialmente os indícios que eles alegam serem provas de suas teorias lisérgicas, são obscurantistas e anti-humanistas. Negam acima de tudo a capacidade de imaginação e de realização do ser humano — para eles, um egípcio de 4 mil anos atrás não poderia construir uma pirâmide; uns incas de merda (aquele povo incompetente que levou um cacete memorável de Pizarro) jamais poderiam construir Macchu Picchu.
A desumanidade desse pessoal é tão grande que eles parecem duvidar que o ser humano sequer pudesse criar a idéia de Deus — os deuses, dizia o Von Daniken, eram astronautas. É a síndrome do “not invented here” adaptada ao homem. Ou ao menos um grave exemplo de baixa autoestima existencial.
É verdade que a situação já foi pior, durante aquele período da história humana que cheirava a patchuli e em que se acreditava que adentrávamos a era de Aquário (Deus do céu, isto é a era de Aquário?). Essas idéias, por mais mirabolantes, por mais ilógicas, se mostravam adequadas àquela nova consciência telúrica, àquela coisa cósmica meio odara em que tudo era tudo e nada era nada — e você ainda tinha que mastigar 50 vezes cada garfada de arroz integral. O tempo passou, o sândalo saiu de moda, nos acostumamos à tecnologia, à fissão do átomo, ao Concorde e aos ônibus espaciais, e então passamos a pensar menos nessas coisas.
 Mas vaso ruim não quebra e eles continuam por aí. É difícil para mim entender a razão, mas há milhares de ufólogos no Brasil. Há até associações que juntam esse pessoal. Tem gente que se ressente da existência de crentes? Eu me ressinto da existência de ufólogos — e diabo, ninguém nota a ironia contraditória nesse nome? Porque ufologia é obscurantismo disfarçado de pseudo-ciência.
Mas vaso ruim não quebra e eles continuam por aí. É difícil para mim entender a razão, mas há milhares de ufólogos no Brasil. Há até associações que juntam esse pessoal. Tem gente que se ressente da existência de crentes? Eu me ressinto da existência de ufólogos — e diabo, ninguém nota a ironia contraditória nesse nome? Porque ufologia é obscurantismo disfarçado de pseudo-ciência.
Para piorar, ufólogos tendem a acreditar em conspirações malucas. Eles realmente acreditam que os governos sabem que somos visitados cotidianamente por ETs vindos de quadrantes aos quais nem a Enterprise chegou, e escondem isso de nós. Se não vemos ETs por aí não é porque eles não estão na Terra, mas porque há um grande complô do governo, qualquer governo, para esconder a verdade.
E isso é o que mais me impressiona: a idéia de complô, de uma grande conspiração orquestrada pelos governos para nos manter na ignorância. Para mim é ainda mais difícil acreditar que o SNI e sua sucessora Abin tenham competência para esconder esse tipo de fato da população do que acreditar na existência de ETs congelados como picanha num açougue. O que prova a imbecilidade desse pessoal é a crença na hipótese absurda de que esses governos, que sequer conseguem esconder as trapalhadas cotidianas que cometem, poderiam guardar um segredo de tamanha grandeza. Na verdade, a Nasa sequer consegue guardar as amostras espaciais que possui; como conseguiria guardar segredos como picolés de ETs, que escapam mais fácil, é coisa que me foge à compreensão.
O fato é que o governo sequer esconde de mim a existência da Ana Maria Braga; por que iria esconder a existência de um disco voador é coisa que, sinceramente, jamais vou conseguir entender.
 O History Channel era uma das razões pelas quais assino TV. A outra, provavelmente, é o TCM. O resto — programas como o do Anthony Bourdain e os peitos da Nigella Lawson, um ou outro filme mais novinho, Charlie Sheen nas reprises de Two and a Half Men — é brinde que vem de graça.
O History Channel era uma das razões pelas quais assino TV. A outra, provavelmente, é o TCM. O resto — programas como o do Anthony Bourdain e os peitos da Nigella Lawson, um ou outro filme mais novinho, Charlie Sheen nas reprises de Two and a Half Men — é brinde que vem de graça. Essa não é a única semelhança entre ufologia e outros tipos de fé. Não importa, por exemplo, que visitas de extra-terrestres sejam uma implausibilidade física. É justamente nessas horas que a malucada apela para a fé, para a ignorância: “Claro que é possível a uns ETs com cara de fuinha viajar 300 milhões de anos-luz para nos saudar com um ‘Klaatu barada nikto’ nas fuças. É que eles têm tecnologia que a gente não conhece.” Ou para o fuxico puro e simples: “Não, eu nunca vi um ET, mas um primo do amigo de meu cunhado foi abduzido.”
Essa não é a única semelhança entre ufologia e outros tipos de fé. Não importa, por exemplo, que visitas de extra-terrestres sejam uma implausibilidade física. É justamente nessas horas que a malucada apela para a fé, para a ignorância: “Claro que é possível a uns ETs com cara de fuinha viajar 300 milhões de anos-luz para nos saudar com um ‘Klaatu barada nikto’ nas fuças. É que eles têm tecnologia que a gente não conhece.” Ou para o fuxico puro e simples: “Não, eu nunca vi um ET, mas um primo do amigo de meu cunhado foi abduzido.” Mas vaso ruim não quebra e eles continuam por aí. É difícil para mim entender a razão, mas há milhares de ufólogos no Brasil. Há até associações que juntam esse pessoal. Tem gente que se ressente da existência de crentes? Eu me ressinto da existência de ufólogos — e diabo, ninguém nota a ironia contraditória nesse nome? Porque ufologia é obscurantismo disfarçado de pseudo-ciência.
Mas vaso ruim não quebra e eles continuam por aí. É difícil para mim entender a razão, mas há milhares de ufólogos no Brasil. Há até associações que juntam esse pessoal. Tem gente que se ressente da existência de crentes? Eu me ressinto da existência de ufólogos — e diabo, ninguém nota a ironia contraditória nesse nome? Porque ufologia é obscurantismo disfarçado de pseudo-ciência.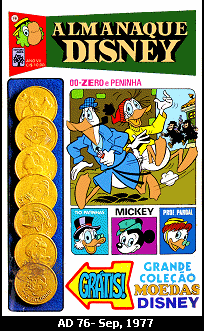 Um site magnífico para quem lembra das revistinhas Disney de eras passadas: o
Um site magnífico para quem lembra das revistinhas Disney de eras passadas: o 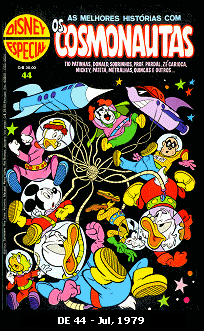 Era o tempo em que as revistas traziam impresso um pequeno aviso na capa: “Manaus, Santarém, Boa Vista, Altamira, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Jiparaná (via aérea): Cr$ 00,00 – CÓD. 0051” — e isso significava, basicamente, um aumento de cerca de 30% no preço de capa. Era um Brasil diferente e a região Norte ficava mais longe. Tão longe que até hoje eu não sei onde fica Jiparaná.
Era o tempo em que as revistas traziam impresso um pequeno aviso na capa: “Manaus, Santarém, Boa Vista, Altamira, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Jiparaná (via aérea): Cr$ 00,00 – CÓD. 0051” — e isso significava, basicamente, um aumento de cerca de 30% no preço de capa. Era um Brasil diferente e a região Norte ficava mais longe. Tão longe que até hoje eu não sei onde fica Jiparaná.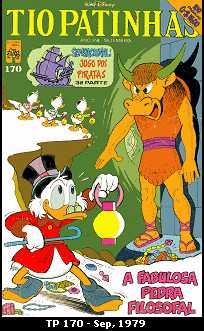 Além disso, ver a palavra “Bingola” — um joguinho de tabuleiro com tampinhas de Coca-Cola, se não me engano — nas capas de várias revistas me lembrou que eu brinquei com isso, o que quer dizer que comprei, ou pelo menos li, outras revistas antes da tal Almanaque Disney 76. (Uma busca por “Bingola” mostrou que há por aí gente mais maluca do que eu, gente que guardou suas tampinhas até hoje. Ano passado um sujeito estava vendendo sua coleção por 1.500 reais no Mercado Livre.)
Além disso, ver a palavra “Bingola” — um joguinho de tabuleiro com tampinhas de Coca-Cola, se não me engano — nas capas de várias revistas me lembrou que eu brinquei com isso, o que quer dizer que comprei, ou pelo menos li, outras revistas antes da tal Almanaque Disney 76. (Uma busca por “Bingola” mostrou que há por aí gente mais maluca do que eu, gente que guardou suas tampinhas até hoje. Ano passado um sujeito estava vendendo sua coleção por 1.500 reais no Mercado Livre.) O site também acaba sendo uma crônica visual da decadência dos quadrinhos Disney no Brasil. Quem conhece as revistas feitas há 30, 40 anos lembra da impressão com cores sempre chapadas, os defeitos da colorização manual e das tecnologias de impressão disponíveis; lembra das variações de letras a cada história, também feitas à mão. De lá para cá houve imensos progressos técnicos. Tudo, da finalização à colorização e às letras, é feito no computador. As impressoras trazem cores mais ricas, com mais nuances tonais e mais controle sobre o resultado final. O tempo operou suas mudanças também na lingua, e hoje ela se apresenta mais coloquial.
O site também acaba sendo uma crônica visual da decadência dos quadrinhos Disney no Brasil. Quem conhece as revistas feitas há 30, 40 anos lembra da impressão com cores sempre chapadas, os defeitos da colorização manual e das tecnologias de impressão disponíveis; lembra das variações de letras a cada história, também feitas à mão. De lá para cá houve imensos progressos técnicos. Tudo, da finalização à colorização e às letras, é feito no computador. As impressoras trazem cores mais ricas, com mais nuances tonais e mais controle sobre o resultado final. O tempo operou suas mudanças também na lingua, e hoje ela se apresenta mais coloquial. Há 30 anos — e as capas de diversas revistas mensais e edições especiais comprovam isso — esse era um negócio excelente. Hoje, diante do tamanho do império de dívidas da Abril, não tenho essa certeza. No começo deste século, por exemplo, ela não teve problemas em se desfazer dos super-heróis da Marvel e, cerca de um ano depois, da DC. No entanto se apega às revistas Disney, mesmo que pareça não mais saber o que fazer com elas. Por uma matéria lida há uns dez anos na finada Gazeta Mercantil, parece que é por razões sentimentais: o Pato Donald foi a primeira revista publicada pela editora, em 1950, e sempre foi questão de honra para o fundador, Victor Civita. Isso torna ainda mais incompreensível e injustificável o trabalho porco que realizam com essas revistas. A única coisa decente que ainda publicam é uma tal de Disney Big — mais ou menos a mesma coisa que a antiga Disney Especial, mas sem o fio temático que era a marca daquelas revistas e cada vez mais limitado ao universo de Carl Barks. O resto é lixo mal editado — e é deprimente que, com mais de meio século de histórias, eles não consigam simplesmente escolher as melhores.
Há 30 anos — e as capas de diversas revistas mensais e edições especiais comprovam isso — esse era um negócio excelente. Hoje, diante do tamanho do império de dívidas da Abril, não tenho essa certeza. No começo deste século, por exemplo, ela não teve problemas em se desfazer dos super-heróis da Marvel e, cerca de um ano depois, da DC. No entanto se apega às revistas Disney, mesmo que pareça não mais saber o que fazer com elas. Por uma matéria lida há uns dez anos na finada Gazeta Mercantil, parece que é por razões sentimentais: o Pato Donald foi a primeira revista publicada pela editora, em 1950, e sempre foi questão de honra para o fundador, Victor Civita. Isso torna ainda mais incompreensível e injustificável o trabalho porco que realizam com essas revistas. A única coisa decente que ainda publicam é uma tal de Disney Big — mais ou menos a mesma coisa que a antiga Disney Especial, mas sem o fio temático que era a marca daquelas revistas e cada vez mais limitado ao universo de Carl Barks. O resto é lixo mal editado — e é deprimente que, com mais de meio século de histórias, eles não consigam simplesmente escolher as melhores.