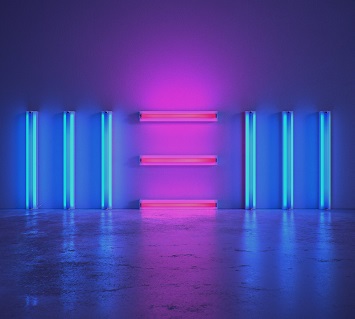
Cinco anos atrás, quando Paul McCartney lançou o álbum New, alguém no Twitter disse que ia esperar minha resenha sobre o álbum. Eu nunca me acostumei àqueles 140 caracteres e, quando fui olhar de novo, a mensagem desapareceu e eu não lembro mais quem escreveu. Por isso, caso ainda leia isso aqui, peço que me perdoe. Eu tinha uma boa razão para não responder.
O problema era que eu também estava esperando.
Assim que o álbum saiu, minha filha me perguntou se ele era bom. Respondi que não. (Na verdade eu disse que era uma bosta, mas esse não é o tipo de resposta que se deve dar a uma filha.) O fato é que minha primeira impressão de New foi horrorosa. Eu detestei o disco, sua produção, virtualmente todas as canções. Me pareceu um álbum ruim que se tentou salvar através de uma produção excessiva, e a emenda saiu pior que o soneto.
Ao longo dos meses seguintes, eu o ouvi insistentemente. Era menos uma tentativa de gostar do disco, elogiado pela crítica em geral, do que de entendê-lo. Cheguei a comprar o vinil um ano depois, achado por acaso numa Barnes & Noble qualquer enquanto eu procurava livros baratos, e que ainda está lacrado porque mp3 é suficiente para mim.
O tempo passou e, à medida que fui me acostumando às canções e aos valores de produção, passei a achá-lo quase tolerável. O disco traz boas faixas. Save Us, Early Days, On My Way To Work (mais pela evocação trazida pela letra do que pela melodia medíocre e a produção bombástica), New — talvez a única a demonstrar neste disco a capacidade sobre-humana de McCartney de criar melodias pop absoluta e enganosamente fáceis —; Turned Out não faz muito feio, embora pareça tão velha, Looking at Her tem alguma classe, e Get Me Out of Here é um bom aceno aos anos 60.
Tem também faixas ruins, em número infelizmente grande demais. Queenie Eye, apesar de alguns bons momentos, é fraca, e o seu videoclipe não vai muito além de um desfile idiota e sem significado de celebridades. Appreciate é irritante. Everybody Out There é um tipo de sub-rock de arena que McCartney gosta de cometer eventualmente (e uma letra absolutamente pedestre: “do some good before you say goodbye” vai para o seu panteão de letras cretinas, empatada com “changes in the way we treat our fellow creatures”, de Looking For Changes). Hosanna é muito chata. I Can Bet, idem. Road, ibidem. E Struggle tem um título que anuncia o esforço que você vai fazer para escutá-la até o fim.
É só fazer as contas e ver que um dos principais problemas do disco é que a maioria das faixas é ruim. Essas canções parecem excessivamente trabalhadas, resultado antes de um grande esforço para fazer algo diferente do que da inspiração absoluta e quase matemática que sempre foi a marca de McCartney. A isso se junta uma produção estapafúrdia, exagerada e modernosa, que nivela por baixo as canções e as submerge em camadas e camadas de mediocridade. O resultado é isso: um disco ruim, piorado pela decisão de soar jovem demais.
Em suma, em New McCartney tentou fazer um álbum moderno, cool. Só conseguiu nos fazer lembrar que, como diziam os Skrotinhos do Angeli, no cool dói.
Mas New trazia alguns elementos curiosos. Ali ficou definitivamente claro que a ausência da voz de Linda McCartney nos backing vocals tornava a música de Paul diferente, para quem ainda lembrava dos Wings. Além disso, confirmava definitivamente uma tendência razoavelmente recente de McCartney a escrever letras mais intimistas, mais pessoais. Nos últimos anos, suas letras parecem refletir cada vez mais uma angústia existencial e uma tentativa de entender o mundo à sua volta que não existia nos seus verdes anos. McCartney era o sujeito que encarava a composição principalmente como artesanato, o mestre para quem o que realmente importava era encaixar uma letra em uma melodia, e não o seu significado. Mas agora, bem adiantada a sua oitava década de vida, McCartney parece querer fazer as pazes com a sua existência, e às vezes deixar registrada a sua versão da sua própria história, o que acontece em canções como On My Way To Work e Early Days.
E agora ele se sai com um novo disco.
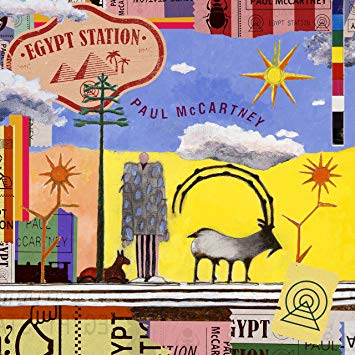
Egypt Station teve uma das campanhas de lançamento mais competentes de que tive notícia. A equipe de McCartney soube utilizar bem as mídias sociais, em todas as suas variedades, e as possibilidades que elas oferecem. Shows de surpresa, aparições em programas de TV, e finalmente a liberação homeopática de faixas ao longo dos últimos três meses. Pouco antes do lançamento do álbum, lançou no YouTube uma série de comentários sobre cada canção e transmitiu um show na Grand Central de Nova York. Conseguiu gerar, assim, uma expectativa entre os fãs que não se via há muitos anos.
Resta o disco em si, que é o que realmente importa.
Duas coisas chamam a atenção em Egypt Station, imediatamente. A primeira é o nível de degradação da voz de McCartney. Em 1969, tentando gravar Oh! Darling em infinitas tentativas, McCartney comentou que cinco anos antes teria conseguido de primeira. Sua voz seguiu mais ou menos igual até os anos 90, mas de lá para cá a coisa parece ter saído de controle, e rapidamente. Depois que as vendas de discos diminuíram e ele precisou voltar a tocar ao vivo, o processo de deterioração de sua voz se acelerou de maneira assustadora.
Isso ficou claro para mim, pela primeira vez, quando o vi cantar She’s a Woman no Rock in Rio Lisboa, em 2004. Ele já não conseguia alcançar as notas mais altas, e o resultado chegava a ser constrangedor.
Hoje, a voz de McCartney é a de um ancião que gritou muito a vida inteira e agora faz um esforço sobre-humano, até dolorido, para cantar. Se alguém prestar atenção, vai ver que ele mudou também a maneira de cantar algumas das antigas canções dos Beatles, tocando seu baixo pelo menos uma oitava acima do original. Ele fez isso, por exemplo, ao cantar A Hard Day’s Night em Nova York. Isso é ainda mais triste quando lembramos que ele só cantou o middle eight dessa canção porque Lennon não conseguia alcançar aquelas notas mais altas.
O som do baixo de McCartney é a outra curiosidade. Paul McCartney é provavelmente o baixista mais influente da história da música pop e um dos mais criativos. Durante o seu auge, seu baixo foi um Rickenbacker 4001. Mas depois que voltou a fazer turnês, McCartney voltou ao velho Hofner 500/1, o “beatle bass”, certamente por evocar o velho beatle Paul e porque o Hofner é extremamente leve e confortável, algo essencial para velhos que insistem em fazer shows de duas horas e meia. Com isso, sua música perdeu o peso e o punch que o Rickenbacker lhe oferecia. Além disso, o nível de compressão a que McCartney o submete durante as gravações torna o seu som, bem particular, absolutamente comum. Mais importante, no entanto, é que McCartney adotou definitivamente uma abordagem burocrática e fácil ao instrumento, muitas vezes até repetititva. Vão longe os tempos em que ele mostrava ao mundo que o baixo podia ir muito além da marcação da canção. O baixo de McCartney hoje é elegante como sempre, correto, mas é medíocre e deixa saudades do tempo em que se aventurava de maneiras inimaginadas.
Mas isso são bobagens, meu bem, bobagens. Egypt Station é o melhor álbum de Paul McCartney desde Chaos and Creation in the Backyard, de 2005.
O disco abre com I Don’t Know, uma bela balada, típica de McCartney. Tem classe e a elegância harmônica que sempre foi sua marca, e uma letra decente. É uma excelente canção, digna da lenda do seu autor.
Come On To Me é um ótimo rock, de uma vitalidade contagiante. Poderia ser gravada por qualquer dessas bandas pop que andam por aí. Mas aqui já se começa a ver o excesso de computadores. De qualquer forma, é uma das boas canções do álbum e expressa uma vitalidade muito agradável.
Happy With You é uma bela cançãozinha, aparentemente dedicada à sua mulher, em que ele canta que “eu era um bêbado, e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus” — ou melhor, Nancy Shevell. É o velho McCartney, e agradável de reencontrar.
Who Cares é uma boa canção, um daqueles rocks simples que fazem você bater o pé no chão e mexer os ombros discretamente. Poderia talvez ser melhor com sua velha e boa banda de apoio, sem muitas firulas. Mas ao oferecer uma reflexão sobre bullying e trolls de internet, mostra que Macca ao menos tenta entender o mundo em que vive e oferecer a ele um posicionamento.
Em contrapartida, Fuh You é embaraçosa. Um pouco pela letra: “I just wanna fuh you” não é coisa que mesmo um velho safado como McCartney cante em público. Certo, é legal essa ideia de a terceira idade ter uma vida sexual ativ — ei, vovô, sua dentadura caiu! Mas o principal problema da faixa é o tratamento pop radiofônico que ela recebeu. Computador demais, adulação demais ao gosto jovem atual. McCartney tem tamanho suficiente — quem tem esse tamanho fora ele? — para dispensar esse rastejar. É como se McCartney tivesse se rendido a Phil Spector.
Evocativa de Chaos and Creation in the Backyard, seu melhor álbum nas últimas décadas, Confidante é uma canção de gratidão, como parecem ser muitas baladas de McCartney nos últimos tempos. Mas aqui essa gratidão é ao seu violão. Não é a melhor canção do álbum, mas é digna.
Eu pensava que McCartney já tinha desistidos dessas tentativas de hino-hippie-odara-vamos-ver-o-sol-nascer-no-Vale-do-Amanhecer, como People Want Peace. O discurso político de McCartney sempre foi frouxo, fácil — medíocre, na melhor das hipóteses. É uma das canções fracas do disco. Alguns detalhes da melodia empolgam, mas são só detalhes, que não chegama redimir a canção.
Hand in Hand é uma canção belamente construída, com referências claras à música medieval inglesa, que ele já não consegue cantar. Típica de sua produção mais recente, é uma prova de talento e de domínio de sua arte.
Dominoes, por sua vez, é uma grande canção, que traz a marca de McCartney ao mesmo tempo em que desvenda caminhos melódicos. É uma daquelas canções que fazem valer a pena comprar um disco.
Back in Brazil é uma canção curiosa. De certo modo, parece que suas referências são pré-samba canção: para mim, que sou velho e ouço coisas mais velhas que eu, tem detalhes que parecem tirados do filme “Alô Amigos” ou de “A Dama de Shanghai”; mas me parece que uma certa moderna música brasileira tem esses grooves de que a canção se apropria. Diz McCartney que compôs essa canção no Brasil depois de ouvir o Bonde do Rolê. Ele devia ter vergonha de falar essas coisas. Ao mesmo tempo, essa atitude é absolutamente louvável, e enriquece a música.
Do it Now parece sobra de New, em seu tom menor e no jeito de que foi construída com esforço e sofrimento diante das teclas de um piano. Não tenho mais nada a dizer sobre ela.
Caesar Rock é uma dessas canções que atualmente se fazem num estúdio, feita no Pro Tools. Mas tem qualidades. Aqui a voz desgastada de McCartney empresta uma verdade cuja ausência era um dos problemas quando ele podia cantar o que queria. Lembra bastante a música solo de Mick Jagger.
Despite Repeated Warnings nos lembra novamente que McCartney não é o melhor sujeito do mundo para nos falar de política. Ele é rico demais para isso. No entanto é uma boa faixa, melodicamente mais complexa que a maior parte da música feita hoje. Seu grande problema é que é longa demais. Tem 6’57”. Só para lembrar, meio século atrás McCartney compôs uma canção com metragem semelhante. Se chamava Hey Jude.
O disco fecha com um típico medley de McCartney, Hunt You Down/Naked/C-Link. O riff inicial de Hunt You Down parece resgatado dos anos 80, mais precisamente de uma banda chamada The Clash, e não sabe se vai ou se fica. Isso não impede qua a canção seja agradável e forte. Naked, especialmente, é uma excelente canção. O verso “I’ve been naked for so long, now” adquire um sentido pungente quando lembramos que há quase 60 anos a vida de McCartney, um dos formadores da cultura ocidental, se dá debaixo dos holofotes. E C-Link parece estar aí como um lembrete de McCartney: “Eu sei que você sabe que eu sou o maior baixista do mundo, mas quero te lembrar que sou um grande guitarrista”.
No fim das contas, Egypt Station é um belo álbum. Um ótimo disco de McCartney, e poderia ser um disco memorável de cada uma dessas bandas pop modernas, o álbum que evitaria que elas pululem por aí durante uns meses e depois sumam definitivamente.
E o que mais me impressiona é que eu insisto em chamar esse negócio, que baixei da internet e só existe como zeros e uns, de “disco”. Eu estou velho. Mas ao contrário de McCartney, eu não quero ser novo.
“o que realmente importava era encaixar uma letra em uma melodia, e não o seu significado. Mas agora, bem adiantada a sua oitava década de vida, McCartney parece querer fazer as pazes com a sua existência”
Rafael: isso prova que demorar pra morrer poder não ser uma coisa tão maravilhosa quanto apregoam.
No que tange as oitavas da voz do Paul, já faz muito tempo em que ele cantava Long Tall Sally sem ficar com vergonha do Little Richards. Como você já disse, a estrada destrói a voz.
” adulação demais ao gosto jovem atual. McCartney tem tamanho suficiente — quem tem esse tamanho fora ele?”
O Paul, assim como alguns himens, sempre foi muito complacente; acho que era a coisa que o John Lennon mais detestava nele.