Pergunte às pessoas que gostam um pouco que seja dos Beatles e a grande maioria dirá que boa mesmo é a segunda fase da banda, aquela que por uma convenção meio claudicante se inicia com o Revolver. Dirão que a primeira fase é bobinha, e em parte isso vai se dever ao respeito a outra convenção simples e já consolidada: a chamada segunda fase, melódica e harmonicamente mais ambiciosa e mais sofisticada, é a fase universalmente considerada “revolucionária” dos Beatles.
E elas estarão erradas. Porque em termos de “revolução” nada se compara àqueles quatro meninos cabeludos de Liverpool que cantavam ié ié ié. Esses são os verdadeiros revolucionários. O resto é só conseqüência.
É engraçado que se tenha perdido a perspectiva histórica do que representou a chegada dos Beatles ao cenário musical. Foi o som de uma única canção, Please Please Me, que criou o que hoje se chama de rock inglês e que, por tabela, revitalizou o então moribundo rock americano, além de abrir caminho para que dezenas de outras bandas e artistas aparecessem e trouxessem elementos novos, alguns dos quais fundamentais, para a evolução da música.
As pessoas esquecem que no início da década de 60 o rock and roll estava morto. Buddy Holly e Eddie Cochran haviam morrido em acidentes (respectivamente de avião e de táxi), Chuck Berry tinha ido para a cadeia, Little Richard tinha entrado numa grave crise existencial e se convertido à religião, Jerry Lee tinha caído em desgraça porque comeu a prima — mas casou —, e Elvis, bem, Elvis tinha morrido também. Outros grandes artistas da primeira onda do rock tinham se esgotado em termos de inovação criativa — e aí se inclua Carl Perkins, Everly Brothers, Gene Vincent e tantos outros. O que se ouvia então era twist. Twist não é música que se dê ao respeito.
Dentro desse cenário, o que os Beatles representaram em termos de renovação da música pop em 1963 é virtualmente impossível de ser quantificado. Há uma série de teorias sobre as razões pelas quais os Beatles tomaram os Estados Unidos de assalto em 1964, que vão da necessidade de uma válvula de escape para o trauma do assassinato de John Kennedy à combinação de irreverência e seriedade ilustrada nos terninhos eduardianos que eles usavam sob seus cabelos compridos. Mas nada disso é tão importante quanto a sua música.
I Want To Hold Your Hand não se parece com nada feito antes dela. A energia, a coesão harmônica e a inventidade melódica que faziam parte da música dos Beatles representaram uma mudança de padrão muito mais importante, por exemplo, que a que eles fariam anos mais tarde com o Sgt. Pepper’s, considerado por muita gente o disco mais importante da história do pop.
Era aqui que estava o novo.
Havia mais coisas acontecendo simultaneamente — ou melhor, sendo gestadas. Na California os Beach Boys apareciam com um pastiche meio bobo de CHuck Berry e Everly Brothers; quem quer que ouça seus primeiros discos vai ver como o som parecia comportado e bem enquadrado. Em 1965 eles partiriam para uma grande aventura sonora, em canções mais elaboradas como Good Vibrations, mas em 1963 apenas repetiam a fórmula da surf music com letras debilóides como as de Be True To Your School. Enquanto isso, a Inglaterra se preparava para regurgitar o rhythm and blues americano, mais ou menos como a França tinha absorvido e transformado o cinema americano em sua nouvelle vague uns poucos anos antes; e lançava, ali, uma abordagem diferente e renovadora da música pop que estouraria em 1965 — da qual Satisfaction, dos Rolling Stones, talvez seja o seu maior símbolo.
Mas foram os Beatles que mostraram o que era realmente o novo. Satisfaction é caudatária direta desse caminho aberto por Please Please Me, inclusive na sonoridade. Com aqueles seus primeiros compactos — Please Please Me, She Loves You, I Want To Hold Your Hand — os Beatles definiram um padrão novo para a música pop. O que hoje pode até parecer bobinho para quem não consegue ver a história da evolução da música pop porque não consegue colocar a música em seu contexto, era revolucionário em 1964.
Bob Dylan percebeu isso imediatamente: ele lembra de estar na estrada quando ouviu pela primeira vez I Want to Hold Your Hand, e entendeu imediatamente que era dali que vinha o futuro; e abandonou o folk para entrar de cabeça no rock and roll (o que talvez não tenha sido uma boa idéia, mas essa é uma opinião bem pessoal). O poeta Phillip Larkin também:
Sexual intercourse began
In nineteen sixty-three
(which was rather late for me) –
Between the end of the Chatterley ban
And the Beatles’ first LP.Up to then there’d only been
A sort of bargaining,
A wrangle for the ring,
A shame that started at sixteen
And spread to everything.Then all at once the quarrel sank:
Everyone felt the same,
And every life became
A brilliant breaking of the bank,
A quite unlosable game.So life was never better than
In nineteen sixty-three
(Though just too late for me) –
Between the end of the Chatterley ban
And the Beatles’ first LP.
O impacto da chegada dos Beatles também é sentido em outras áreas do show business. Foram eles, por exemplo, que criaram o que hoje se entende por cena rock. Foi a beatlemania que possibilitou os shows em grandes estádios. Para que se tenha uma idéia do que isso representa é só lembrar que Elvis, o maior de todos antes de JPG&R, costumava se apresentar sobre tablados em feiras estaduais.
Nada disso significa que se deva subestimar a sua importância a partir do Revolver, o momento em que eles viraram os queridinhos de um público pretensamente sofisticado que finalmente se rendia incondicionalmente à força musical e social do rock, mas queria manter ainda uma certa dignidade intelectual; no entanto é bom lembrar que em 1967, ano do Sgt. Pepper’s, também surgiram coisas como os primeiros do Velvet Underground e dos Doors.
No Verão do Amor os Beatles não estavam mais sozinhos. Mas em 1964 estavam. Um sujeito com o cabelo na cintura podia ser transgressor em 1967, mas havia muitos outros como ele ao seu lado. Em 1963, os cabelos nos ombros dos Beatles eram absolutamente únicos. Quase tão únicos quanto a música que faziam. E por mais ingênuos que eles hoje pareçam, assim como a irreverência e até mesmo suas canções, a verdade é que foi naquele momento que eles pariram um mundo novo.
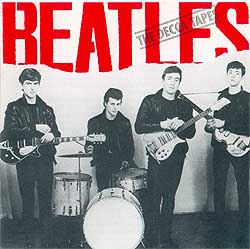 A minha primeira bíblia sobre os Beatles foi a revista Beatles Documento (ou Documento Beatles), uma edição especial da revista Somtrês escrita pelo Marco Antonio Mallagoli, do fã clube Revolution. Era 1985, uma época em que informação era difícil de achar. Minha primeira cópia se desfez de tanto uso, e comprei outra. Depois eu veria que tem muita informação errada ali. Muita, mesmo, além de opiniões bastante descartáveis. Mas independente disso, foi a revista responsável por eu querer entender um pouco mais sobre a banda. A Beatles Documento foi inestimável.
A minha primeira bíblia sobre os Beatles foi a revista Beatles Documento (ou Documento Beatles), uma edição especial da revista Somtrês escrita pelo Marco Antonio Mallagoli, do fã clube Revolution. Era 1985, uma época em que informação era difícil de achar. Minha primeira cópia se desfez de tanto uso, e comprei outra. Depois eu veria que tem muita informação errada ali. Muita, mesmo, além de opiniões bastante descartáveis. Mas independente disso, foi a revista responsável por eu querer entender um pouco mais sobre a banda. A Beatles Documento foi inestimável. Pirataria dos Beatles é coisa de fã, mesmo. A maior parte é simplesmente ruim. Não é algo que interesse realmente a ninguém, porque são geralmente canções descartadas ou incompletas. Mas mesmo levando isso em consideração, pirataria já foi mais interessante. Até há 15 anos, uma boa porção de material inédito bastante interessante era encontrado apenas em discos piratas. A Apple contornou esse problema lançando o Live at the BBC em 1994, e nos anos seguintes a série Anthology, com um montão de sobras de estúdio e algumas gravações ao vivo. Com isso, eliminaram boa parte dos atrativos desses discos. Pirataria é para completistas que se dão ao trabalho de tentar escutar tudo que a banda fez. Ou seja: para bobos.
Pirataria dos Beatles é coisa de fã, mesmo. A maior parte é simplesmente ruim. Não é algo que interesse realmente a ninguém, porque são geralmente canções descartadas ou incompletas. Mas mesmo levando isso em consideração, pirataria já foi mais interessante. Até há 15 anos, uma boa porção de material inédito bastante interessante era encontrado apenas em discos piratas. A Apple contornou esse problema lançando o Live at the BBC em 1994, e nos anos seguintes a série Anthology, com um montão de sobras de estúdio e algumas gravações ao vivo. Com isso, eliminaram boa parte dos atrativos desses discos. Pirataria é para completistas que se dão ao trabalho de tentar escutar tudo que a banda fez. Ou seja: para bobos. Durante muito tempo, esses discos foram lançados por “selos” tão verdadeiros quanto uma nota de 3 reais. Alguns, como a Yellow Dog, Audifön, Vigotone e Great Dane se notabilizaram pela alta qualidade dos seus lançamentos. Mas até há alguns anos era extremamente difícil achar discos piratas — e quando se achava, eles eram caríssimos. A coisa melhorou muito com o surgimento do CD. Mas a grande virada, mesmo, foi a consolidação da internet como canal de distribuição. Foi quando surgiu a Purple Chick.
Durante muito tempo, esses discos foram lançados por “selos” tão verdadeiros quanto uma nota de 3 reais. Alguns, como a Yellow Dog, Audifön, Vigotone e Great Dane se notabilizaram pela alta qualidade dos seus lançamentos. Mas até há alguns anos era extremamente difícil achar discos piratas — e quando se achava, eles eram caríssimos. A coisa melhorou muito com o surgimento do CD. Mas a grande virada, mesmo, foi a consolidação da internet como canal de distribuição. Foi quando surgiu a Purple Chick. Demos é como são chamadas as gravações caseiras feitas para não esquecer uma música que acabaram de compor ou para mostrar aos outros membros da banda. Antigamente elas estavam espalhadas por vários discos diferentes, em coletâneas como a série Artifacts, mas hoje há uma série chamada The Complete Home Recordings, que abrange desde as primeiras gravações, ainda com Stuart Sutcliffe, até o final. A maior parte é chata de doer, mas aqui e ali uma ou outra canção se sobressai. Serve também para entender que, na época do “Álbum Branco”, as canções já eram apresentadas ao resto da banda praticamente em sua forma final.
Demos é como são chamadas as gravações caseiras feitas para não esquecer uma música que acabaram de compor ou para mostrar aos outros membros da banda. Antigamente elas estavam espalhadas por vários discos diferentes, em coletâneas como a série Artifacts, mas hoje há uma série chamada The Complete Home Recordings, que abrange desde as primeiras gravações, ainda com Stuart Sutcliffe, até o final. A maior parte é chata de doer, mas aqui e ali uma ou outra canção se sobressai. Serve também para entender que, na época do “Álbum Branco”, as canções já eram apresentadas ao resto da banda praticamente em sua forma final. Os dois únicos discos ao vivo oficiais dos Beatles foram lançados 7 anos depois do fim da banda. O Live at Hollywood Bowl, uma mixagem de pedaços dos shows de 1964 e 1965, ainda não foi lançado em CD, e o The Beatles Live! At Star Club, Hamburg 1962 sempre enfrentou problemas legais, já que nunca foi autorizado pela banda. (Em 1998 eles finalmente venceram um processo judicial para tirá-lo de catálogo, e hoje é um disco pirata. Mas é brilhante. Serve, quando menos, para mostrar que os Beatles eram uma grande banda de rock and roll e que eram extremamente empolgantes ao vivo, antes da rotina dos shows da beatlemania.) A maioria dos discos de shows têm qualidade de som muito ruim, servindo principalmente como registro histórico. Mas há exceções. O Shea Stadium é o maior show da história dos Beatles (embora tenha sido “aperfeiçoado” em estúdio algumas semanas depois), e o primeiro mega-show da história. No Live in Atlanta, 1965, você pode ouvir Lennon esnobando a sua audiência, que obviamente não podia ouvir nada por causa dos seus próprios gritos. O Five Nights at a Judo Arena, dos shows japoneses da última turnê dos Beatles, tem som excelente mas mostra uma banda que já não faz o mínimo esforço em tocar sequer afinada. E finalmente há o Candlestick Park, o último show ao vivo dos Beatles, em São Francisco (e melhor que os outros shows dessa turnê).
Os dois únicos discos ao vivo oficiais dos Beatles foram lançados 7 anos depois do fim da banda. O Live at Hollywood Bowl, uma mixagem de pedaços dos shows de 1964 e 1965, ainda não foi lançado em CD, e o The Beatles Live! At Star Club, Hamburg 1962 sempre enfrentou problemas legais, já que nunca foi autorizado pela banda. (Em 1998 eles finalmente venceram um processo judicial para tirá-lo de catálogo, e hoje é um disco pirata. Mas é brilhante. Serve, quando menos, para mostrar que os Beatles eram uma grande banda de rock and roll e que eram extremamente empolgantes ao vivo, antes da rotina dos shows da beatlemania.) A maioria dos discos de shows têm qualidade de som muito ruim, servindo principalmente como registro histórico. Mas há exceções. O Shea Stadium é o maior show da história dos Beatles (embora tenha sido “aperfeiçoado” em estúdio algumas semanas depois), e o primeiro mega-show da história. No Live in Atlanta, 1965, você pode ouvir Lennon esnobando a sua audiência, que obviamente não podia ouvir nada por causa dos seus próprios gritos. O Five Nights at a Judo Arena, dos shows japoneses da última turnê dos Beatles, tem som excelente mas mostra uma banda que já não faz o mínimo esforço em tocar sequer afinada. E finalmente há o Candlestick Park, o último show ao vivo dos Beatles, em São Francisco (e melhor que os outros shows dessa turnê). Essa é a outra grande fonte da pirataria. Afinal, foram mais de 90 horas de gravações. Há coisas inacreditáveis ali. Acho que chegam a centenas de canções diferentes. A série Thirty Days é clássica, e foi durante muito tempo a mais completa. Mas recentemente a Purple Chick lançou a série A-B Road, baseada nas fitas do filme — um “álbum” para para cada dia, com mais de 90 faixas em cada. Nos dois casos, a verdade é que qualquer ouvinte ficaria perdido entre tantas gravações dispensáveis, redundantes ou ruins. Diálogos, afinação, falsos começos, gravações sem absolutamente nenhum interesse — é uma infinidade de bobagens que não interessa a ninguém, além de colecionadores hardcore. É por isso que eu recomendaria os 3 discos de The River Rhine Tapes. Uma excelente seleção do que saiu de melhor daquelas sessões — John cantando Get Back, Maxwell’s Silver Hammer, Something e I’ve Got a Feeling, por exemplo, as melhores versões de Two of Us, e muito mais — com qualidade de som muito boa. É definitivamente melhor que o Anthology III.
Essa é a outra grande fonte da pirataria. Afinal, foram mais de 90 horas de gravações. Há coisas inacreditáveis ali. Acho que chegam a centenas de canções diferentes. A série Thirty Days é clássica, e foi durante muito tempo a mais completa. Mas recentemente a Purple Chick lançou a série A-B Road, baseada nas fitas do filme — um “álbum” para para cada dia, com mais de 90 faixas em cada. Nos dois casos, a verdade é que qualquer ouvinte ficaria perdido entre tantas gravações dispensáveis, redundantes ou ruins. Diálogos, afinação, falsos começos, gravações sem absolutamente nenhum interesse — é uma infinidade de bobagens que não interessa a ninguém, além de colecionadores hardcore. É por isso que eu recomendaria os 3 discos de The River Rhine Tapes. Uma excelente seleção do que saiu de melhor daquelas sessões — John cantando Get Back, Maxwell’s Silver Hammer, Something e I’ve Got a Feeling, por exemplo, as melhores versões de Two of Us, e muito mais — com qualidade de som muito boa. É definitivamente melhor que o Anthology III.
 Das lendas vivas dos anos 60, apenas duas mantêm uma trajetória criativa significativa quase meio século depois: Bob Dylan e Paul McCartney. Os Rolling Stones, a outra lenda, estão no mesmo nível de um Chuck Berry e Little Richard, ou de Elvis em 1975, vivendo de shows em que reapresentam incessantemente um repertório brilhante composto décadas atrás; o que muda é apenas a magnitude. Apenas para comparação, nos últimos vinte e poucos anos os Stones lançaram apenas quatro discos com canções inéditas, todos medíocres, e são três compositores na banda. Nesse mesmo período de tempo McCartney lançou doze, incluindo dois discos de covers e três de música erudita, com alguns pontos altos.
Das lendas vivas dos anos 60, apenas duas mantêm uma trajetória criativa significativa quase meio século depois: Bob Dylan e Paul McCartney. Os Rolling Stones, a outra lenda, estão no mesmo nível de um Chuck Berry e Little Richard, ou de Elvis em 1975, vivendo de shows em que reapresentam incessantemente um repertório brilhante composto décadas atrás; o que muda é apenas a magnitude. Apenas para comparação, nos últimos vinte e poucos anos os Stones lançaram apenas quatro discos com canções inéditas, todos medíocres, e são três compositores na banda. Nesse mesmo período de tempo McCartney lançou doze, incluindo dois discos de covers e três de música erudita, com alguns pontos altos.