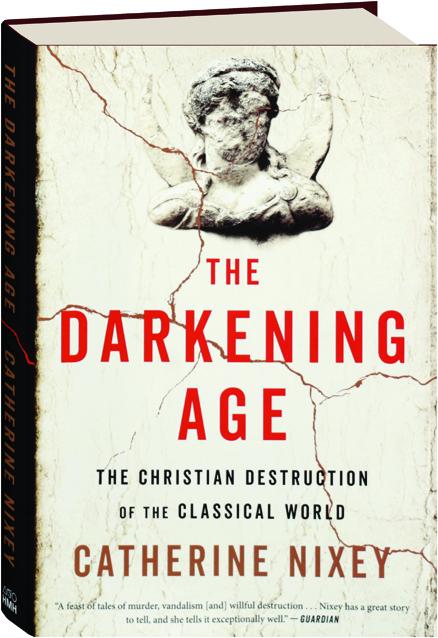Assisti a Shazam e a Captain Marvel dia desses, dois filmes horrorosos que apenas sinalizam o esgotamento de um gênero que andou fazendo muito sucesso nos últimos 20 anos. Mas isso não quer dizer que não tenha havido grandes momentos ao longo desse tempo. Ainda mais para alguém que aos 10 anos deixou de ter como prioridade as revistinhas Disney e caiu no mundo dos super-heróis. Gente como eu.
O primeiro pelo qual me apaixonei foi, entre todos, o Capitão América. Eu já os conhecia, claro. Além dos “desenhos desanimados” que a Tupi exibia nos anos 70, aqui e ali comprei uma ou outra revista do Homem-Aranha quando era criança. Mas foi com o Capitão que as revistinhas de super-heróis passaram a ser as minhas preferidas.
Era o início dos anos 80 e a Abril, que tinha conseguido os direitos de publicação dos personagens de segunda linha da Marvel, estava fazendo um bom trabalho com o personagem. Não só pelo cuidado editorial que a Ebal, a Bloch e a RGE nunca tiveram, mas também porque tomou a decisão correta de começar pela melhor fase do Capitão, do começo dos anos 70 (descobri décadas depois que boa parte das histórias já tinha sido publicada no Brasil). Escrita por Steve Englehart e desenhada por Sal Buscema, apresentava um herói torturado, deslocado em seu tempo. Essa fase representava uma transição do modelo de Stan Lee, àquela altura já em franco processo de esgotamento e repetição das mesmas estruturas ad nauseam, para histórias um pouco menos pueris e esquemáticas.
Pouco depois, passei a comprar algumas revistas do Homem-Aranha, então publicado pela RGE — por exemplo, a edição com a morte de Gwen Stacy e os almanaques, que se não me engano publicavam as tirinhas de jornal. Eram escritas principalmente por Stan Lee e desenhadas por John Romita. Mas só quando a Abril finalmente conseguiu os direitos de todos os personagens da Marvel, em 83 ou 84, é que comecei a comprar regularmente as revistas mensais. Era uma fase estranha, em que o pobre Aranha andava de um lado para o outro feito barata tonta. Desenhada pelo Ross Andru, era essencialmente uma longa ressaca pós-morte de Gwen Stacy.
As historinhas chatas do Aranha, a decadência do Capitão América depois da morte de Sharon Carter e, provavelmente, o fato de eu passar a ter outros interesses na vida me fizeram deixar de comprar essas revistas.
E então veio “O Cavaleiro das Trevas”.
Hoje é lugar comum dizer que a série de Frank Miller que reconstruiu o Batman deu origem a uma nova era nos quadrinhos de heróis. Mas eu estava lá, e se não sabia de sua influência futura, percebia em primeira mão a sua qualidade absurda. A partir daí o Batman — que na minha infância era apenas o personagem ridículo da série de TV — se transformou no meu preferido. Não era por menos: uma a uma, grandes histórias se seguiam: “Ano Um”, “A Piada Mortal”, “Messias”, “Morte em Família”, o deslumbre visual do “Asilo Arkham”. Mais ou menos nessa época o Aranha renasceu nas mãos de Todd McFarlane. E a Abril passou a republicar, numa revista chamada “A Teia do Aranha”, as histórias dos anos 60, início dos 70 do amigão da vizinhança.
Mas os tempos passaram e eu deixei, mais uma vez, de comprar essas revistas. E o responsável por isso foi o Superman.
“A Morte do Superman” foi uma grande ideia, mas foi também uma das coisas mais deletérias que poderiam acontecer para os quadrinhos, pelo menos do ponto de vista de gente como eu, junto com as destruições do mundo a cada 15 dias nas histórias do X-Men — grupo que jamais me interessou, nem mesmo quando desenhado pelo John Byrne.
Em parte porque passaram a mirar um público mais adulto, as histórias se tornaram cada vez mais confusas, e ao mesmo tempo mais repetitivas. Paradoxalmente, eram complexas em excesso e banais demais. Há algo de profundamente chato nas constantes trocas de alter-egos, nas mortes a três por quatro seguidas de ressurreições que agora são quase mandatórias. A morte de Jason Todd, por exemplo, foi um dos grandes momentos dos quadrinhos; sua ressurreição não foi só desnecessária, foi idiota.
Deixei de ler super-heróis há muitos anos. Mas de vez em quando passeio pelas edições digitais antigas do Batman desenhado por Jerry Robinson, Frank Robbins e Sheldon Moldoff, do Aranha de Ditko e Romita e o Capitão América anticomunista dos anos 50. Eu ainda gosto deles. São simplórios, talvez, e muitas vezes pueris. Mas eu gosto. Freud explica, mas eu não estou interessado na explicação.
Todo esse nariz de cera é apenas para dizer que não aguento mais filmes de super-heróis.
É engraçado que, enquanto as revistas em quadrinhos ficaram chatas, no cinema os super-heróis viviam um renascimento. No começo deste século, o “Homem-Aranha” de Sam Raimi me deslumbrou. A evolução da computação gráfica tinha possibilitado transformar em imagens aquilo que só podíamos imaginar, e uma parcela importante da cultura pop finalmente tinha finalmente a chance de se realizar dignamente no cinema. Daí em diante, filmes de super-heróis viraram um segmento fundamental da indústria cinematográfica americana. Tem gente que chega a dizer que se tornaram o “amálgama da civilização moderna” ou algo do tipo, provavelmente porque ninguém pode ser punido por falar idiotices.
Mas eles se esgotaram. Cada vez mais, um filme de super-herói é a repetição da fórmula do filme anterior com um personagem diferente. Quando um filme como “Pantera Negra” é indicado ao Oscar, é mais ou menos como investimento na Bolsa: quando você fica sabendo de uma oportunidade é porque dali em diante aquela ação só vai cair.
Acho que parte do problema está na ênfase nos efeitos especiais, nas sequências cada vez mais mirabolantes de ação e na exigência de que o produto final fique dentro do padrão definido para esse tipo de filme, uma mistura de ação e humor semi-infantil.
O roteiro — ou melhor, a construção dos personagens — parece dizer cada vez menos. A revolução protagonizada por Stan Lee dizia respeito nem tanto aos heróis, mas aos seus alter-egos. Nunca foi o Homem-Aranha: era Peter Parker. Mas isso é menos importante em um filme, até pelas limitações de tempo. O resultado é que os personagens são menos ricos (Tony Stark, um personagem ressuscitado maravilhosamente pelo cinema, não acabou se transformando em pouco mais que uma caricatura?), as identidades civis dos personagens são cada vez menos importantes (o Capitão América tem vida privada?). Um filme de super-herói é basicamente correria, tiro, porrada e bomba, e um esforço sobre-humano em efeitos especiais cada vez mais próximos da perfeição.
Mas há um problema em tudo isso. Se a gente parar para pensar, quadrinhos são bem menos gráficos do que parecem. Sua mecânica faz com que a maior parte da ação seja essencialmente intuída pelo leitor. Um quadrinho apenas lhe dá um indicativo do que acontece, como uma fotografia; os detalhes dos movimentos, os sons, tudo isso acontece apenas na sua cabeça. É o leitor quem acaba de criar esses movimentos, no final das contas. Assim como cria as vozes de cada personagem, por exemplo.
Os filmes eliminam essa participação do espectador. Ele não tem que criar nada. Tem apenas que receber extáticos esse bombardeio sensorial, de preferência sem pensar.
Talvez por isso esses filmes me interessem cada vez menos. Passo batido por alguns (“Esquadrão Suicida”, por exemplo, vi apenas por que estava disponível em um voo), e outros vejo para esquecer logo em seguida. Eu simplesmente não consigo lembrar do último filme do Homem-Aranha, e nem faço questão. Filmes de super-heróis se transformaram no equivalente destes anos aos de Steven Seagal: você sabe exatamente o que vai receber antes mesmo de entrar no cinema. Em alguns casos a decadência é mais que óbvia: basta ver que a cada novo reboot o Homem-Aranha vem sendo humilhado.
Mesmo assim, eu com minha mania de listas resolvi fazer a minha de melhores filmes de super-herói, uma daquelas listas idiossincráticas que volta e meia aparecem por aqui. Alguns filmes poderiam estar na lista, mas têm defeitos que acho graves demais. O Batman de Tim Burton, por exemplo: filme importantíssimo na história da construção da viabilidade do gênero, mas que traz um Coringa totalmente equivocado e um total desrespeito à origem do personagem.
Porque para entrar nessa minha lista boba um filme tem que respeitar as origens quadrinísticas do personagem. Ao mesmo tempo, tem que trazer algo novo. A lista está em ordem cronológica. Obviamente, não assisti ainda ao último dos Vingadores, porque ainda não ganharam as redes e eu não vou mais ao cinema. O penúltimo, no entanto, não me disse muita coisa, além do fato de parecer ser apenas um prólogo para esse filme. Tampouco assisti ao último do Homem-Aranha. Mas esse não tem como ser bom, desde que resolveram violentar o pobre Parker e transformá-lo em pupilo de Tony Stark. Esse não é o meu mundo.
Superman I e II (1978/1980)
40 anos se passaram e Superman I e II continuam insuperáveis. Feito sem os efeitos especiais atuais, mas com um grande cuidado no roteiro, o resultado é um filme novo, equilibrado. Cenas de um lirismo hoje impensável, como o passeio de Superman e Lois Lane no céu, quase inimagináveis hoje, mostraram que o cinema podia enriquecer os quadrinhos com possibilidades que o papel lhes negava. Ele é contado aqui como um filme apenas porque foi gravado praticamente inteiro de uma só vez, por Richard Donner. Richard Lester, creditado como diretor do II, apenas terminou o segundo filme — e destruiria a franquia em Superman III. Em 2006, Superman Returns tentaria retomar o universo criado aqui; o resultado foi um filme que, embora eu goste muito, não foi bem aceito pela maioria das pessoas. Depois vieram os filmes com Henry Cavill, abaixo de qualquer crítica. Sabe Deus o que o destino reserva para o Homem de Aço.
Corpo Fechado (2000)
Embora sem uniformes, e com superpoderes disfarçados, o filme de M. Night Shyamalan é um grande filme de origem de super-herói. Bem feito, brincando adequadamente com as estruturas do gênero, e dispensando efeitos especiais mirabolantes, Unbreakable vai à essência do que é ser super-herói. Dentro desses limites, é um filme brilhante.
Homem-Aranha 2 (2004)
Embora o primeiro filme do Homem-Aranha dirigido pelo Sam Raimi tenha sido o grande responsável pela nova era de filmes de super-heróis, o que faz dele um marco inegável, é em “Homem-Aranha 2” que a série atinge a quase perfeição: os únicos defeitos do filme, como a presença extemporânea de uma Mary Jane interpretada pela atriz errada, são herdados do filme original. O resto são atores adequados e um dos vilões mais ricos desse universo, o Dr. Octopus de Alfred Molina.
O Cavaleiro das Trevas (2008)
Batman Begins foi aclamado como um grande filme, mas era medíocre — sua sorte é que era necessariamente comparado aos filmes anteriores de Tim Burton e Joel Schumacher, que transitavam entre o ruim, o ridículo e o escabroso. Christopher Nolan finalmente conseguiu dar aqui a densidade necessária ao personagem, ajudado pelo melhor super-vilão de todos os tempos: o Coringa de Heath Ledger atualizou e levou o Palhaço do Crime a desvãos assustadores. (Eu falei minhas bobagens aqui sobre Batman Begins e sobre O Cavaleiro das Trevas.)
Homem de Ferro (2008)
Uma coisa que as pessoas deveriam ter em mente é que filmes de super-herói funcionam melhor quando o personagem é relativamente desconhecido, tipo segunda linha, porque isso possibilita mais liberdade na reconstrução do personagem para uma nova mídia. Neste caso, o Homem de Ferro ganhou uma abordagem mais rica do personagem ao mesmo tempo em que teve sua origem respeitada. Além disso, sua armadura era mais fácil de transplantar para o cinema sem violentar os quadrinhos. O resultado é um clássico do gênero.
Vingadores (2012)
A fórmula se consolidou definitivamente aqui: muita ação, umas pitadas de humor para temperar a coisa, muitos efeitos especiais e uma batalha final apoteótica. É um filme redondo, bem feito, e que nortearia virtualmente todos os filmes de super-herói feitos depois.
Capitão América: Soldado Invernal (2014)
Com a fórmula consolidada, basta um bom roteiro para fazer um grande filme. Estruturada livremente sobre a melhor fase do Capitão, do início dos anos 70, e baseada em uma grande história, sólida, o segundo filme do Capitão América faz justiça à lenda de um dos personagens mais antigos do cânon. É um filme brilhante.
Deadpool (2016)
A essa altura a fórmula já estava desgastada, e então aparece Deadpool com uma proposta simples: vamos avacalhar a bodega. Só isso. Mas faz isso com graça e com risadas legítimas.
Mulher Maravilha (2017)
Olhando direitinho, não há muita coisa nova em “Mulher Maravilha”: a protagonista é uma mulher, e estamos conversados. O desrespeito total à mitologia grega é um detalhe apenas, que certamente passou em branco para a plateia. Fora isso não há muito mais que clichês, ou no mínimo as regras básicas do filme de super-herói. Mas os autores entenderam que para fazer um filme com uma super-heroína nos anos 10 não basta simplesmente trocar o nome do protagonista. O filme precisa trazer uma certa ideologia, e por rasa que possa ser — e é —, “Mulher Maravilha” se beneficia disso. Acabou sendo um sopro num gênero cada vez mais cansado; mas a julgar por Captain Marvel, um sopro bem fraquinho, quase um suspiro.
Eu nunca fui bom de matemática.