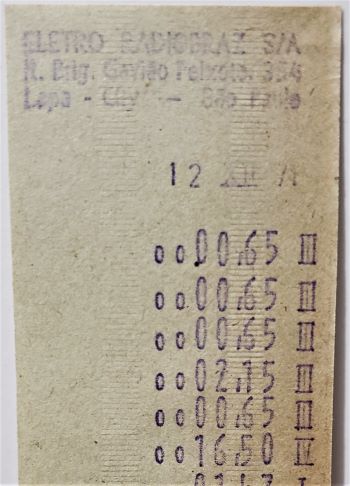Entre 79 e 80 as pessoas ainda veraneavam em Itapuã; como na minha casa as coisas eram diferentes, fui morar ali, em frente ao Hotel Quatro Rodas, então em construção, numa rua perpendicular à que hoje se chama Passárgada. Diante da casa havia um grande areal que se estendia até o Abaeté; e para chegar à praia passávamos pela casa de Vinícius de Moraes, que acabou dando nome à rua que a separa do mar, rua da Curva do Vinícius.
A casa pertencia a um sueco, se não me engano cônsul honorário. Tinha nome como um estate inglês, Vila Niva, com placa no portão a lhe dignificar. Corria uma lenda de que ele morara ali com uma sueca em um andar e uma brasileira no outro. Devia ser só isso, mesmo, só uma lenda, mas gosto de achar que é verdadeira porque ela reafirma minha fé na humanidade.
Os fundos da casa davam para o terreno imenso onde ficava o bar de Juvená. Era o bar onde eu comia ostras, uma ou duas dúzias de uma vez só, e onde Fia Luna tocava seu atabaque nos fins de semana. Lembro de brincar algumas vezes com o filho de Juvená — Ricardo ou Rodrigo, um nome assim; mas geralmente eu brincava sozinho, porque aquele mundo de areia era grande o bastante para dar espaço à minha imaginação.
Havia um restaurante de caça no centro de Itapuã. Nunca comi lá, nem sei se existe ainda; mas se eu já tivesse comido cotia naqueles dias tenho certeza de que seria cliente fidelíssimo. Havia também uns botecos onde jukeboxes tocavam Odair José, Carlos Alexandre, Amado Batista, Altemar Dutra — aquela boa música brega dos anos 70, quando os artistas populares ainda tentavam fazer com honestidade e verdade o melhor que podiam, ainda que o resultado fosse um pastiche de jovem guarda e música romântica de seu tempo.
Havia também uma loja de caça e pesca. Foi lá que comprei uma vara de pescar — de bambu ainda, não era dessas modernas — e uma faca de caça, com cabo imitando marfim, que me fazia sentir o próprio Tarzan. Comprei também uma bússola, objeto mais inútil que comprei na vida, porque o que importava eu sabia: a direção do mar.
Tudo o que eu conseguiria pegar com aquela vara, e mesmo assim um ano depois, de volta à Barra — lugar que sempre me tratou com o carinho e o amor maternal que eu merecia —, seria um baiacu pequenininho. Baiacu é rima, não é peixe.
A praia era delimitada pelo farol de Itapuã ao sul e por umas pedras ao norte. Era perigosa, violenta, e eu não costumava entrar nela. Mas entre as pedras a maré baixa formava uma pequena piscina natural, e era lá que eu passava dias quase inteiros, entre uma maré alta e outra. Um bocado de peixes nadava por ali, e havia um coral rosa numa de suas reentrâncias, na minha imaginação grande como as cavernas submarinas onde o Almirante Nelson e o Capitão Crane enfiavam o Seaview — ou ao menos o Sub-Voador.
Nunca consegui apanhar um daqueles peixes, mas uma vez arranjei um martelo e um formão e arranquei um pedaço daquele coral tão bonito; eu não sabia que era um ser vivo, e ninguém pode imaginar a minha tristeza quando vi aquele rosa quase imediatamente dar lugar ao que parecia apenas um pedaço de areia dura — nem o meu arrependimento por ter destruído aquilo.
Mas do que mais lembro, mesmo, é do cheiro. O cheiro do mar e da vegetação de restinga, o cheiro da areia branca.
Havia lagartixas e calangos e tijubinas, os mais bonitos. Bonitos, mas muito difíceis de apanhar. Era mais fácil pegar as lagartixas comuns, mais lentas, e delas havia a literalmente dar com o pau. Me tornei um exímio caçador de lagartixas, já que não podia caçar as raposas que diziam haver por lá e pendurar suas peles na parede, como eu via penduradas em “Daniel Boone”.
Tudo isso pertence a um tempo que já passou há muito. O único problema é que o passado nunca morre de verdade, vence a todos, inclusive o futuro que invariavelmente se transforma nele.
Há alguns anos achei na internet uma faca bem parecida com a que tive, e comprei: hoje ela é pequena para minha mão. E agora, em vez da bainha de couro, vem numa bainha chocha de poliéster.
Itapuã é contramão para mim, lugar para passar quando chego e quando saio de Salvador — e a minha cidade não é essa em que os baianos hoje vivem e da qual reclamam diuturnamente, ela existe em outro tempo. Faz muitos anos que não ando a pé por Itapuã; mas passando de carro dá para perceber que embora alguns marcos ainda estejam lá, como a quase centenária padaria Portugal, o bairro está cada vez mais caótico, e não devia ser à toa que Caymmi foi morar em Rio das Ostras, bem longe da praia que não abriga mais jangadeiros como Chico, Ferreira e Bento, e onde Rosinha de Chico não vigia mais as ondas, dizendo “Morreu… Morreu…”
Mas uns anos atrás, depois de uma dessas campanhas em que a gente se ausenta do mundo esperando que ao final ele melhore, resolvi passar uns dias ali. Me hospedei no Quatro Rodas, que agora se chama DeVille.
O cheiro ainda está lá, em algumas partes a areia branca ainda está lá, mas tem cada vez menos areia e cada vez mais casas, e o cheiro parece meio diluído em meio aos tantos não-cheiros da civilização que finalmente alcançou Itapuã. Fia Luna não toca mais, agora é nome de rua em Stella Maris. A casa em que morei foi demolida para dar lugar a um desses villages de casas quase geminadas que estão na moda. Onde havia uma casa grande e uma casa de empregados e muita areia e um bocado de árvores agora há oito casas, se contei direito; e o areal em frente há muito deu lugar a muros feios e casas feias, típicas daquela maldição que flagela os baianos e os condena a enfeiar a cidade o quanto podem, até deixá-la irreconhecível em sua fealdade. Da casa sobrou apenas um pedaço do muro de pedra e alguns coqueiros, agora enormes. Mais nada. Quem morou ali um dia escolheu o lugar para se perder do mundo na imensidão dos areais de Itapuã, mas o progresso chegou e trouxe o aperto da cidade para mais longe.
Mas é como eu disse, o passado nunca é totalmente passado, e passei umas duas horas na piscininha como se ainda tivesse oito anos, porque ela continua igual ao que era há tanto tempo. Os peixes continuam nadando ali, tranquilos porque sabem que ninguém vai conseguir pegá-los com as mãos.
Eu só não sabia que já não era o caiçara que fui um dia, e a pele não aguentava mais, e saí de lá com ela vermelha, queimando, e queimaria por mais alguns dias. Mas não estava triste. Porque no lugar de onde eu tinha tirado o coral quatro décadas antes a vida tinha voltado, e ele estava lá, rosa, como se nunca tivesse passado pelas mãos de um menino que ainda não sabia nada da vida.