Vi há um tempo uma matéria antiga falando do suicídio da Editora Abril, escrita pelo Thales Guaracy. Ele conta das opções equivocadas, do gerenciamento caótico que levou a editora a um fim melancólico. A incompetência dos herdeiros de Roberto Civita já tinha sido matéria para muito mais gente, crônica de morte anunciada ao longo desses anos em que o fim da Abril vinha sendo dado como inevitável.
Eu acompanhei a sua agonia. Quando anunciaram o cancelamento das revistinhas da Disney era óbvio que o fim estava próximo, porque O Pato Donald era uma espécie de talismã do fundador Victor Civita e um símbolo importante do que a editora representou um dia. Depois vi o cancelamento de outros tantos títulos importantes, como a Casa Cláudia. Finalmente vi a editora ser vendida por quaisquer mil-réis, seus títulos entregues a outros como os filhos de um retirante, e a Veja circulando com uns anunciozinhos pingados em suas páginas, sombra pálida do que foi em outros tempos e muito inferior às suas concorrentes, hoje.
Não dá para dizer que é injusto, porque em seus últimos anos a Abril decidiu errar a mão na mistura possível de jornalismo e política. Chegou a ser mais vilificada que a TV Globo, especialmente por causa da guinada em direção à extrema direita e ao não-jornalismo dado pela Veja. Não foi pouca gente que comemorou a derrocada e venda da editora.
Eu não estava entre eles porque sempre achei que as coisas nunca foram assim tão simples, e a disputa política acaba obscurecendo um fato que não pode ser esquecido: a Editora Abril foi, talvez, a editora mais importante do país.
As pessoas gostam de falar da Companhia das Letras ou da CosacNaify, ou de alguma outra que esteja na moda hoje ou seja grande o bastante para angariar simpatias. Nenhuma tem a importância da Abril na história deste país.
Ela fez ao menos tanto pela alfabetização de milhões de brasileiros quanto o Mobral; provavelmente mais. De lambuja, junto com a Globo, deu lá sua contribuição ao processo ainda incompleto de definição de uma identidade cultural brasileira, que abrangesse o país todo como um fator comum e se sobrepusesse às singularidades regionais, dando sequência a um projeto de nação iniciado durante o Estado Novo.
Victor Civita, judeu ítalo-americano, começou a Abril com uma revista em quadrinhos que não deu certo, “Raio Vermelho”. Pouco depois lançou “O Pato Donald”, porque seu irmão Cesar já tinha os direitos de publicação da Disney na Argentina. A editora se virou por algum tempo, expandiu o número de títulos aos poucos, deu sorte com fotonovelas, e nos anos 60 passou a crescer em ritmo vertiginoso.
No final da década de 70 a Abril vendia quatro milhões de revistas em quadrinhos por mês; Tio Patinhas, por exemplo, vendia 500 mil exemplares. E tinha o que se poderia considerar as melhores revistas adultas do país. Veja, Exame, Placar, Cláudia, Quatro Rodas, Nova, Playboy.
Mas na minha imodesta opinião seu grande papel na história do país não está aí. Ele começou, mesmo, com a decisão que salvou a editora: publicar enciclopédias em fascículos e coleções de livros nas bancas, no final dos anos 60, seguindo um modelo que dava certo na Itália.
Isso não fez dela apenas a maior editora do país, uma terra em que edições de livros raramente passavam dos três mil exemplares. Com os fascículos, a Abril possibilitou a centenas de milhares de famílias o acesso à cultura. Porque uma coisa era o sujeito conseguir, sei lá, 1000 cruzeiros para enterrar numa Barsa, numa Mirador, nas esperança tantas vezes vã de que servisse para desasnar comme il faut sua prole. Outra era comprar, a cada semana ou quinzena, mais um fascículo da enciclopédia tal e qual por cinco ou dez cruzeiros. Num país que praticamente inventou o cheque pré-datado, isso era o paraíso. Conhecer, Novo Conhecer, Enciclopédia do Estudante, Informática, Nosso Século: qualquer pessoa com mais de quarenta anos consegue lembrar imediatamente de várias enciclopédias lançadas pela Abril. Foram dezenas.
Além disso, as tantas coleções de livros que ela lançou ao longo de sua história levaram o melhor da literatura mundial e brasileira a uma infinidade de casas. A coleção “Imortais da Literatura Universal”, reempacotada em diversos formatos ao longo das décadas até o começo dos anos 2000, ainda hoje é respeitável. A “Grandes Sucessos”, dedicada à literatura do século XX, lançou no Brasil “A Sangue Frio”, de Capote. As coleções “Mistério” e “Série Mistério e Suspense” quase não devem nada à insuperável “Colecção Vampiro”. Virtualmente toda área da cultura foi abordada pela Abril em suas coleções: “Teatro Vivo”, “Os Pensadores”, “Os Economistas”, tantas outras. E a “Clássicos da Literatura Juvenil” merece mais um post neste blog.
Sem falar nas tantas coleções de discos, da “Taba” à “Gigantes do Jazz”, passando pela ópera e pela MPB.
Hoje os sebos do país estão repletos de coleções da Abril, inúteis como jornal de ontem, acumulando poeira em suas estantes. As enciclopédias desnecessárias porque perderam sua função; os livros sem valor porque, sendo edições de massa, são descartados como quase lixo quando seus donos morrem. Mas isso dá uma ideia bem aproximada da grandiosidade desse projeto cultural.
Para mim, ela era essencialmente duas coisas: a editora das melhores e mais bem cuidadas revistas, fascículos e livros que eu podia comprar numa banca e uma espécie de companheira de infância e adolescência. Faço parte da última geração a crescer com os quadrinhos Disney.
Nos anos 80, a Abril deu uma dignidade às revistas da Marvel e da DC que as editoras anteriores, como Cruzeiro, Bloch e Ebal jamais conseguiram dar — embora uma certa elite acostumada a quadrinhos importados, já naquela época, reclamasse do que chamavam “formatinho”, da demora na publicação de histórias, disso e daquilo. A minha vontade, cá nos ermos de Lampião, era de enfiar a peixeira no bucho desses playboys, porque eu ainda lembrava das revistas da Ebal. Obviamente, eu mal fazia ideia de que esse tipo de coisa só ia piorar nas décadas seguintes.
A Bizz apresentou para um bocado de gente as novas tendências em música. Era uma revista canalha, típica do pior que a cultura paulista pode oferecer, um provincianismo deslumbrado e colonizado, e que contava com articulistas cuja ética profissional era mais rarefeita que o vácuo sideral. Mas para quem morava longe dos grandes centros era uma referência importante. Tem tanta coisa de que ouvi falar primeiro na Bizz: REM, Jesus and Mary Chain, umas coisas aqui e outras ali. Até mesmo coisas de que só ouvi falar, mesmo, mas que não ouvi porque nas rádios daqui isso não tocava e eu não tinha interesse em ir atrás.
É por isso que não consigo ter raiva da Abril. Pelos quadrinhos Disney, pela unificação dos quadrinhos da Marvel e DC, pelos livros que comprei em bancas. E a verdade é que morro de saudades da Veja.
Não tenho a mínima vergonha de dizer que tenho saudades daquela revista canalha. Nunca foi um grande padrão de notícias, é verdade. Uns anos atrás, com algum tempo livre, saí procurando notícia sobre os Beatles em seus arquivos e fiquei impressionado com a imprecisão, com o diz-que-diz repetido em seções diferentes, com os boatos falsos impressos em suas páginas. E isso nos anos 70.
Mas ela foi, durante muito tempo, a melhor revista semanal do país, e não à toa sobreviveu a tantas outras: Cruzeiro, Manchete, Fatos & Fotos, Agora, Amanhã, Visão. Até hoje, sempre que ponho as mãos em uma, e mesmo odiando as mudanças a que o tempo lhe obrigou — tipologia, adequação a um mundo com fotos grandes e textos pequenos, excesso de colunistas, entre umas tantas outras —, ela traz uma sensação de familiaridade que nenhuma outra revista pode trazer para mim. Me sinto à vontade lendo a Veja porque foi ela a revista que mais li durante muito tempo.
Em uma de minhas fotos mais antigas, eu estou “lendo” uma Veja. Mais tarde, ainda criança mas já reconhecendo duas ou três letras, lia a revista com certa frequência — aqueles bons tempos em que a gente só lia o que interessava, no meu caso principalmente as notícias sobre livros e filmes. Depois, já trabalhando, a Veja era uma das revistas fundamentais para se ler toda semana. Não há como não sentir saudades.
Mas por mais variada que tenha sido a atuação da Abril, agora que tudo acabou e ela é uma sombra do que foi, longe dos Civita e sem nada da personalidade que tinha em seu fastígio, é curioso ver que sua glória e decadência acompanharam a trajetória dos quadrinhos Disney.
O fim começou bem antes da internet. Segundo “O Homem Abril”, do Gonçalo Júnior, Roberto Civita identificava o início do fim no momento que a Censura Federal liberou a nudez total nas revistas masculinas, em 1980. A queda nas vendas foi imediata. Ali os quadrinhos perderam o público adulto. Mas a decadência continuou e se acentuou ao longo das duas décadas seguintes por mais razões. Mais e mais casas com televisão, o surgimento do videogame e depois da TV a cabo, até mesmo o aumento da violência urbana que fez com que as crianças deixassem de ir sozinhas às bancas de revistas, a necessidade de escala da Abril, tudo isso foi destruindo as vendas das revistas em quadrinhos. A Turma da Mônica sofreu menos, ancorada em um bom esquema de assinaturas e a mudança para a Editora Globo. Finalmente veio a internet, o apocalipse da mídia impressa.
Em dezembro de 1979 havia 85 títulos de revistas nas bancas brasileiras, de todas as editoras. Em dezembro de 2018 havia 279. Pelos números pode-se pensar que o mundo melhorou muito. Mas duvido que a tiragem do conjunto dessas 279 revistas chegue a pelo menos metade dos quatro milhões que só a Abril, com 29 daqueles 85 títulos, tirava com seus gibis.
A Abril pertence a um outro mundo, que a internet enterrou. Recentemente, dando uma volta na zona norte de Aracaju, notei algo que nunca havia percebido antes: não há mais bancas de jornal ali.
Na zona sul elas também são cada vez mais raras. Umas poucas resistem, uma luta inglória já condenada ao fracasso, e não acredito que revistas continuem sendo sua principal mercadoria. A banca de Florêncio, onde décadas atrás eu tinha conta, hoje vende frutas e verduras. Bancas de revistas pertencem a um passado cada vez mais distante. Como a editora Abril.
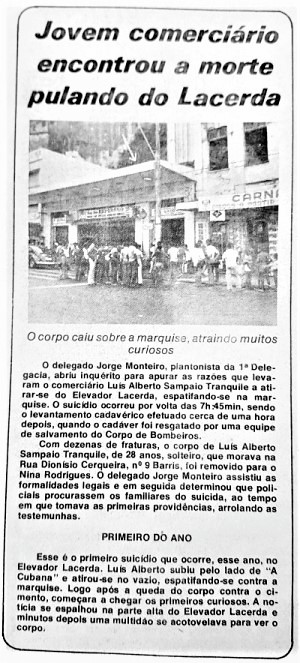 Há três dias fez quarenta anos que Luís Alberto Sampaio Tranquile se suicidou.
Há três dias fez quarenta anos que Luís Alberto Sampaio Tranquile se suicidou.