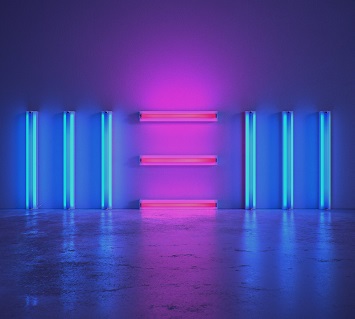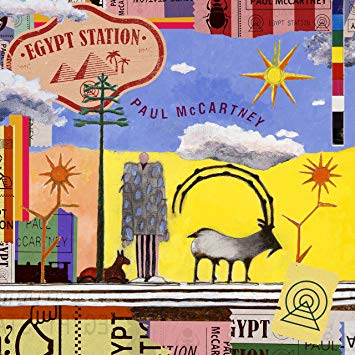Durante décadas, o legado dos Beatles foi mantido com uma pureza que nenhuma outra banda, na história, repetiu. Os Stones vivem raspando seus tachos em busca de algo que possam vender já desde os anos 60. Até Bob Dylan, desde os anos 80, vem revirando seus baús e transformando em algo rentável sobras de estúdio e quetais.
Os Beatles, não. Durante o quarto de século seguinte ao seu fim, o catálogo original de 13 álbuns foi mantido intacto, entronizado como a obra cristalizada de uma banda revolucionária e inigualável, um cânon pelo qual a música popular ocidental deveria se guiar. Suas músicas não eram licenciadas para comerciais. Raramente apareciam em filmes (eu só consigo lembrar de Shampoo). A integridade de sua obra nunca foi ameaçada.
O que a gente não sabia é que isso talvez se devesse menos a um purismo excessivo do que ao fato de, durante aqueles primeiros 25 anos, o emaranhado de processos e contra-processos em que os Beatles se meteram impediam o mínimo acordo para a rentabilização do seu catálogo. Além disso, ainda vigorava a era do LP: as vendas lhes davam dinheiro suficiente para que pudessem manter a compostura.
Resolvidas as questões judiciais, no início dos anos 90, a Apple se viu livre para colocar caça-níqueis em cada loja de discos do mundo e faturar com o que, até então, tinha sido o playground dos piratas. Os primeiros lançamentos foram excelentes: o Live at BBC e os Anthologies trouxeram gravações importantes, de grande qualidade. Mas o se seguiu foi apenas uma sucessão de bobagens desnecessárias. O Let it Be…Naked decepcionou quem quer que conhecesse a história de suas gravações. On Air, Hollywood Bowl — não sei se sou só eu, mas a cada novo lançamento dos Beatles eu venho torcendo o nariz e criando uma resistência que só faz crescer.
E agora que eles aprenderam a lição de Paul McCartney, a coisa parece ter saído de controle.
Enquanto a Apple se perguntava se liberava ou não suas canções para o iTunes, Paul McCartney veio tratando seu material solo de maneira diferente, até agressiva. Quando lançou seu catálogo em CD, nos anos 90, tentou agregar valor a eles incluindo os compactos contemporâneos, dando um panorama histórico mais abrangente e muitas vezes fortalecendo o próprio disco. (E mesmo assim eu não gosto. Um LP é uma obra fechada. Se o Ram se tornou um pequeno clássico ou se Wild Life é até hoje esculhambado, é pelas canções que traziam quando foram lançados, não pelas correções feitas depois. Isso é trapacear.)
Nos anos 2010, às voltas com a necessidade de reembalar um material tantas vezes relançado, McCartney resolveu dar um passo adiante. Agregou a seus discos outtakes, demos, livrinhos, o escambau: seus relançamentos são pacotes caros, feitos para fãs dispostos a pagar por arrotos engarrafados, e que vão muito além da única razão de ser de um LP: a música.
Ano passado a Apple parece ter aprendido essa lição e cruzou o Rubicão. Lançou um Sgt. Pepper’s cheio de badulaques desnecessários. A impressão que um velho fã chato como eu tem é a de que conspurcaram algo sagrado, como se tivessem passado batom e maquiagem pesada numa criança e enfiado a coitada em lingerie vermelha. Mas o resultado parece ter sido satisfatório para os cofres da Apple, porque agora anunciaram uma nova versão do “Álbum Branco”, cheio de penduricalhos para aumentar seu valor de mercado.
A versão deluxe, aquela a que todos vamos dar preferência na hora de baixar ilegal e gratuitamente nas redes da vida, traz um volume enorme de material.
São seis discos, ao todo, além das fotos e pôster originais e um livreto. Os dois primeiros CDs são o velho e bom “Álbum Branco”, agora remasterizado — pela segunda vez em menos de dez anos. O terceiro disco traz as famosíssimas “Esher demos” (voltando da Índia e precisando gravar um novo disco, os Beatles se reuniram na casa de George, Kinfauns, em Esher, e gravaram versões de demonstração das suas novas canções para escolher o repertório do disco, cujas sessões seriam caóticas e serviriam como marco, um tanto arbitrário, do início do fim da banda). Os três discos restantes, intitulados Sessions, trazem sobras de estúdio. Takes alternativos, jams, ensaios. Algumas das faixas aparentemente já foram lançadas oficialmente, como Step Inside Love/Los Paranoias, no Anthology III. O resto parece ser basicamente o que vimos na edição comemorativa do cinquentenário do Sgt. Pepper’s, ano passado: material ruim que uma pessoa honesta jamais revelaria para o mundo.
Isto aqui não é uma resenha porque parece estranho resenhar sobras de estúdio e demos, ainda mais antes de serem lançadas. E porque a grande maioria desse material está disponível, há muitos anos, nas redes. From Kinfauns to Chaos é um entre tantos álbuns feitos apenas como as demos de Esher, e boa parte das sobras de estúdio incluídas nos outros discos também circula fartamente na internet. Quem tiver curiosidade procure pela versão deluxe do “Álbum Branco” lançado pela Purple Chick.
Definitivamente, esses não são os discos que eu gostaria de comprar. Principalmente porque, fora desse esquema de recauchutagem, há uma imensidão de faixas realmente inéditas oficialmente que dariam novos álbuns interessantes. Eu compraria um Decca Tapes oficial, mesmo tendo o pirata há mais de 30 anos; compraria, se fosse lançado como um álbum isolado, as demos de Esher. Compraria um disco com curiosidades como versões de Maxwell’s Silver Hammer, I Lost My Little Girl, I’ve Got a Feeling e Get Back cantadas por Lennon, Something por Paul e por John, Get Back em algo que parece alemão ou cantada por George. No entanto, aparentemente isso não seria suficiente para fazer alguém comprar esses discos. Por isso a versão desnecessária de Sgt. Pepper’s do ano passado, e agora esse “Álbum Branco” gordo, pesado.
***
Mas essa nova orientação de lançamentos pode vir a trazer uma coisa boa para os fãs.
Em 2020, o Let it Be completará 50 anos. É a chance de lançar o filme restaurado nos cinemas (embora eu goste mais da sugestão que já dei aqui: entregar o material bruto para Martin Scorsese e deixar que ele faça algo decente daquela mixórdia), e as versões de Glyn Johns para o Get Back original. Eu entraria em qualquer fila para comprar esse LP, talvez um álbum duplo com as duas mixagens e com a capa original.