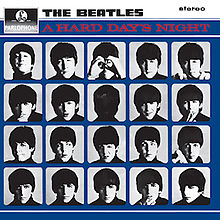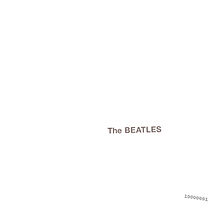Parei para pensar que nunca fiz uma lista ordenando os discos dos Beatles por ordem de preferência. Talvez porque isso não signifique muito para mim; ouvi esses discos por tanto tempo que é quase impossível fazer um ranking. Mas eu gosto de listas.
Em primeiro lugar é bom lembrar que mesmo o pior álbum dos Beatles é melhor que 99,7% dos discos já lançados neste vale de lágrimas e de música ruim. Nenhuma outra banda conseguiu lançar tantos discos seguidos com tamanha qualidade, de maneira tão consistente.
Mais que isso, ninguém mais conseguiu fazer tantas gravações que, mesmo com o passar dos anos, não perdem sua atualidade. É talvez a sua principal qualidade, e o que reafirma a cada dia sua genialidade. Num livro meio estranho lançado recentemente, Their Lives: Great Writers on Great Beatles Songs, Chuck Klosterman definiu com perfeição o que os faz grandes:
The Beatles’ songbook is a neutral charge. It’s a self-reflexive reality. Every other guitar band of the past sixty years has made a kind of rock: blues-rock or prog rock or folk rock or acid rock or punk rock or grunge rock or art rock or [pick a modifier] rock. But not the Beatles. The Beatles made “Beatles Music,” which became the working definition of “rock music,” which became the working definition of “popular music.” Black Sabbath worked within a genre; Blue Cheer worked within a subgenre. The Beatles had no such parameters. They could do whatever they wanted, and whatever they did became normative. If the Beatles had prominently employed the accordion on Revolver, we’d all be able to walk into any local Guitar Center and stare at a wall display of accordions, most of which could be plugged into Marshall amplifiers. Anything the Beatles did immediately became something that could be plausibly attempted by other artists. The Beatles “invented” heavy metal to the same degree they “invented” the notion of a pop band breaking up in public: they weren’t the first people to have the idea, but they were the first materialization of that idea in a context that collectively mattered. “Helter Skelter” ratified metal. Had Mötley Crüe covered “Smoke on the Water” or “Children of the Grave,” the unspoken message would have been “We like metal, so we play metal music.” By covering the Beatles, the unspoken message was “We like music. Metal is just the way we play it.”
Foi dentro desse contexto que fiz essa listinha boba. Ela não inclui alguns dos maiores clássicos da banda, já que os Beatles costumavam reservar suas melhores canções para os compactos, posteriormente reunidos no Past Masters. Se ele pudesse ser incluído seria um dos melhores, sem dúvida. Mas coletânea e disco póstumo não valem.

Yellow Submarine
Talvez seja injustiça colocar este disco aqui, porque na prática ele não é um álbum, é um EP. É praticamente uma obra de George Martin, que assina todo o lado B com a trilha orquestral do desenho animado; das seis músicas dos Beatles que compõem o lado A, apenas quatro são inéditas — duas delas escritas por George Harrison, e não particularmente inspiradas. Mas a verdade é que gosto de todas essas canções, especialmente Hey Bulldog, e até já ouvi o lado B algumas vezes.

Beatles For Sale
Final de 1964. A banda está exausta devido a uma rotina absolutamente estafante, e a obrigação de lançar um novo disco antes do Natal aqui se revela um fardo quase pesado demais, fazendo-a começar a se repetir. Até Beatles For Sale, cada álbum representou um passo adiante em relação ao anterior, retratando uma evolução constante e sem paralelos — ainda mais diante da pressão mercadológica para que eles fizessem mais do mesmo (pressão a que os Beach Boys, por exemplo, não sobreviveram). Mas aparentemente tudo tem limite, e Beatles For Sale é uma interrupção abrupta nesse processo, ou ao menos uma pausa para descanso; não é à toa que este é o disco mais “acústico” dos Beatles. O resultado é uma volta a covers tocadas nas longas noites em Hamburgo, a canções velhas que sempre tinham sido preteridas, como I’ll Follow The Sun, e algumas músicas novas que dificilmente poderiam ser qualificadas como obras-primas. Este é o disco de uma banda competente, talentosa, mas aparentemente estagnada. Relativamente pouca coisa se destaca aqui.

Let it Be
O amontoado de jóias nesse álbum não obscurece o fato de que todo ele soa estranho, como algo destinado a ser grandioso mas que ficou no meio do caminho: não é nem o projeto original, interessante em princípio, nem um disco tradicional de estúdio. Para piorar, o som é estranho, abafado, resultado dos estúdios vagabundos onde foi gravado. Em qualquer outro momento, um disco que enfileirasse Let it Be, Get Back, Across the Universe e The Long and Winding Road seria uma obra-prima, e é só por isso que ele não está em posição mais baixa. Mas o que os Beatles entregaram depois de passar a régua na banda é um disco decepcionante, se analisado no conjunto. Se eles tivessem se reunido para refazer esse álbum com seriedade, o resultado seria um disco perfeito. Mas em vez disso eles acabaram, e Let it Be é apenas Terry Malloy dizendo a você: “I coulda’ been someone! I coulda’ been a contender!” Mais sobre ele aqui.

Please Please Me
Fosse outra a banda e talvez esse disco fosse considerado um clássico absoluto. Basta olhar em volta e ver quantas lançaram um disco de estreia excelente e nunca mais conseguiram repetir o feito, sofrendo para lançar os seguintes. A partir da contagem de abertura, Please Please Me é um disco forte, personalíssimo, executado por uma banda absolutamente coesa que consegue capturar a energia dos pós-adolescentes que seus integrantes ainda eram e, se se contar a canção que lhe dá título (que já tinha sido lançada antes), revolucionário. De uma força impressionante, e com um som muito próprio, Please Please Me é excelente para o seu tempo e seu lugar, sendo fundamental para definir a música que viria a seguir. Mas aí você olha o que os Beatles fizeram depois, pede desculpas e manda o disco achar seu lugar na ordem cósmica das coisas.

With The Beatles
Depois do Please Please Me fizeram este, por exemplo. Para muita gente pode soar uma escolha estranha, colocar este álbum acima dos anteriores. Mas With the Beatles é um disco excelente de rock, coeso, de uma banda mais à vontade no estúdio e buscando horizontes novos enquanto mostram tudo o que aprenderam até ali. É fácil desconsiderar este álbum por ser relativamente fraco em grandes canções originais, embora tenha All My Loving, mas a verdade é que o conjunto, mais que as canções individuais, faz deste um grande disco de rock and roll, executado por “a great little rock band”, como se orgulhava John Lennon.
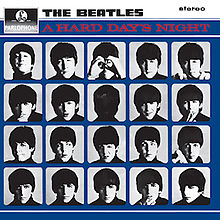
A Hard Day’s Night
A consolidação absoluta da beatlemania e do “beatle sound”, é o único disco composto apenas por canções de Lennon & McCartney. Aqui está cristalizado o som dos Beatles, de maneira definitiva — até o álbum seguinte, pelo menos. Em que pesem uma ou outra canção mais fraca, aqui e ali, sua essência é de uma consistência e qualidade impressionantes. A Hard Day’s Night representa também a ascensão definitiva de Paul McCartney à linha de frente como compositor. A partir daqui, ele ofereceria regularmente composições solo de qualidade absoluta, consolidando definitivamente sua posição de poder dentro da banda e possibilitando os avanços que se veriam nos anos seguintes. Alguém já disse que os Beatles não chegariam ao topo se não fosse por John Lennon, mas não se manteriam nem avançariam se não fosse por McCartney. É uma avaliação válida.

Help!
Um álbum que em alguns momentos é brilhante, com alguns clássicos eternos (Yesterday, que seria naturalmente um single, foi lançada apenas aqui porque McCartney não queria algo que parecesse um compacto solo) mas com uma quantidade alta, para os padrões da banda, de canções medianas — fillers, como eles as chamavam. Musicalmente, e se avaliado no conjunto, Help! não oferece em número suficiente os avanços musicais a que os Beatles acostumaram o mundo em cada um de seus três primeiros discos; em vez disso, aqui eles aparecem como uma banda satisfeita em apresentar suas canções, algumas extremamente inovadoras, como Ticket to Ride, dentro de uma fórmula já consagrada.

Magical Mystery Tour
Se fossem apenas os EPs originais talvez ele ficasse numa posição mais baixa. Mas a versão americana (em que a Capitol colocou os EPs originais no lado A e os compactos lançados mais recentemente no lado B, como Penny Lane, All You Need is Love e Strawberry Fields Forever) era mais sólida, e a partir de 1976 foi institucionalizado mundialmente como o disco oficial. Não foi à toa. Normalmente os americanos destroçavam os discos dos Beatles, tirando deles significado e mesmo sua unidade. Mas até um relógio quebrado está certo duas vezes ao dia, e aqui a Capitol conseguiu fazer um álbum maravilhoso, superior ao original inglês. Pode não ser o disco pensado pela banda, mas o que Harrison disse sobre Ringo (algo como “Ringo sempre foi o quarto beatle, ele só não tinha entrado no filme ainda”) vale para este disco.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
“O melhor disco de todos os tempos”, de importância inquestionável. É um disco absoluto. E mesmo 50 anos depois, mesmo depois de tanta água sob a ponte, defende confortavelmente e com brio sua posição. Mas como disse Ringo Starr, outros discos tinham canções melhores, o que cria um paradoxo curioso: o melhor disco pop da história não é necessariamente o melhor disco dos Beatles. De qualquer forma, o Sgt. Pepper’s mostra a importância do substituto do finado Paul McCartney (dead, man, miss him, miss him) no salto quântico dado pela banda.

Revolver
Para muita gente é o melhor disco dos Beatles. É um álbum revolucionário, sim. Mas na minha lista ele não fica lá na frente por algumas razões. O engenheiro de som dos primeiros discos dos Beatles tinha ido embora, e um garoto novinho tinha assumido os botões na sala de controle: Geoff Emerick, na minha opinião, ainda não tinha o domínio técnico necessário para dar a essas gravações a qualidade que elas precisavam, e algumas canções soam como se pudessem ter sido mais bem mixadas, melhor produzidas. Ou talvez tudo fosse novo demais para que se soubesse como lidar adequadamente com aquilo — o que, definitivamente, aprenderam no álbum seguinte. Fico imaginando o velho Norman Smith diante desse material. Finalmente, um dos títulos que foram considerados para o álbum me parece mais adequado, resumindo o que estava sendo revelado ao mundo: Abracadabra.
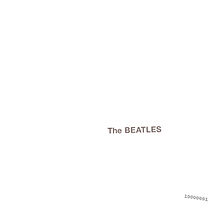
The Beatles
Muita gente não gosta desse álbum. Em parte porque é extremamente variado, em parte porque Lennon, como faria várias vezes, convenceu o mundo de que este disco era “John e banda, Paul e banda” (o que é uma bobagem infelizmente repetida ad nauseam: este disco é claramente dos Beatles, por mais que os estilos individuais de John e Paul como compositores venham se afirmando cada vez mais). George Martin, que não produziu o álbum inteiro, morreria dizendo que teria sido melhor se eles tivessem feito um álbum simples. E é aqui que discordo dele. É justamente por isso que este é um dos melhores discos de todos os tempos. É vibrante, multifacetado, forte; uma cornucópia de estilos, de vitalidade, de brilhantismo e de maturidade. Você pode achar Wild Honey Pie e Can You Take Me Back? fracas — mas dentro do álbum elas adquirem um novo contexto, reforçam a sensação de uma surpresa depois da outra. Até Revolution #9 faz algum sentido.

Rubber Soul
Esqueçam o Revolver: para mim é aqui que está a verdadeira segunda revolução. Antes de mais nada, esta é a prova definitiva da fertilidade absurda da banda: o Help! tinha sido lançado em 6 de agosto, Rubber Soul foi lançado em 3 de dezembro, menos de quatro meses depois. Havia um abismo entre eles; em Rubber Soul, a banda praticamente realiza uma revolução — melódica e harmônica, claro, mas mais notavelmente ainda em termos líricos. Os Beatles de Rubber Soul já não são os mop tops do ié ié ié, suas letras vão além de She Loves You. Ao mesmo tempo, eles conservam muito daquela banda forjada nas horas infindáveis de Hamburgo, um certo frescor que a sofisticação e ambição dos discos posteriores enterraria. Talvez seja o melhor disco pop do anos 60. É magnífico, com uma sonoridade redonda, canções brilhantes e uma alegria que raramente se veria depois, em qualquer banda. Muita gente diz que é um disco de transição; imagino quantas bandas não gostariam de poder ficar trancadas nessa transição para sempre.

Abbey Road
Essa é uma das tantas razões pelas quais os Beatles já em sua época eram saudados como algo sobrenatural. Qual outra banda se despediu do mundo com a sua obra-prima? Porque este disco é perfeito. É a síntese da trajetória de uma banda que sintetizou a música de um tempo e apontou os caminhos que ela seguiria. Um diamante perfeitamente lapidado. De certa forma, ele tem algo em comum com o Kind of Blue de Miles Davis: a compressão em algumas dezenas de minutos de toda a história da música pop.
I hope we passed the audition.